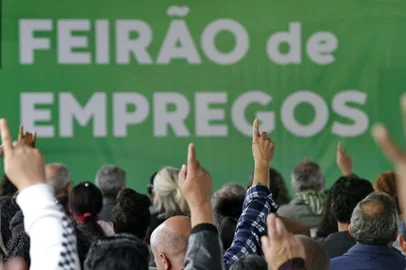A selva amazônica já engoliu o Campo de Golfe Winding Brook. As cheias acabaram com o cemitério, deixando uma pilha de cruzes de cimento. O hospital de cem leitos projetado pelo aclamado arquiteto de Detroit, Albert Kahn? Foi destruído por saqueadores de Fordlândia, no Pará.
Dada a decadência e a decrepitude desta cidadezinha fundada em 1928 pelo industrial Henry Ford, nos confins da Bacia do Rio Amazonas, eu não esperava deparar com as casas majestosas e bem-preservadas na Palm Avenue, mas lá estavam elas, graças aos grileiros.
– Esta rua era o paraíso dos saqueadores; os ladrões levaram móveis, maçanetas, tudo o que os americanos deixaram para trás. Pensei comigo: “Ou eu ocupo esse pedaço da história, ou ele também vai virar ruína, como o resto de Fordlândia” – conta Expedito Duarte de Brito, leiteiro aposentado de 71 anos que mora em uma das mansões construídas para os gerentes de Ford naquela que foi projetada para ser uma comunidade agrícola utópica.
Leia mais
Um Freud sombrio em uma Europa sombria
Jefferson Simões: "O Brasil ainda vive o mito do cientista abnegado"
Moacyr Scliar, 80 anos. O que fica de sua obra
Em mais de 10 anos cobrindo a América Latina, fiz dezenas de viagens à Amazônia, atraído por seus rios imensos, céus magníficos, cidades em expansão, civilizações perdidas e histórias da ganância humana consumida pela natureza. Mas, por alguma razão, nunca estive em Fordlândia. Isso finalmente mudou este ano, quando peguei um barco em Santarém, núcleo fundado na confluência dos rios Amazonas e Tapajós, e fiz a viagem de seis horas para chegar ao local onde Ford (1863-1947), um dos homens mais ricos da época, tentou transformar um pedaço colossal da selva brasileira em uma terra de fantasia do Meio-Oeste americano. Explorei tudo a pé, vagando pelas ruínas e conversando com garimpeiros, agricultores e descendentes dos boias-frias que trabalharam ali. Nem de longe uma cidade perdida, Fordlândia abriga cerca de 2 mil pessoas.

Ford, o fabricante de automóveis que é considerado um dos fundadores dos métodos de produção em massa industriais nos EUA, planejou erguer Fordlândia para ter sua própria fonte da borracha, necessária para a fabricação dos pneus e de peças como válvulas, mangueiras e juntas. Ao fazê-lo, mergulhou em um setor marcado pelo imperialismo e alegações de subterfúgio botânico. O Brasil era rico em Hevea brasiliensis, a cobiçada seringueira, e a Bacia Amazônica se viu em franca expansão de 1879 a 1912 graças à necessidade das indústrias norte-americana e europeia da matéria-prima.
Para horror dos líderes locais, o botanista e explorador inglês Henry Wickham conseguiu tirar milhares de sementes de Hevea de Santarém, obtendo o estoque genético para cultivar plantações nas colônias britânicas, holandesas e francesas na Ásia. Essas empreitadas do outro lado do mundo destruíram a economia borracheira brasileira, mas Ford desprezava a dependência dos europeus. Assim, em uma decisão que agradou o governo brasileiro, o industrial americano adquiriu uma área gigantesca de terra na Amazônia.
Desde o início, a inépcia e a tragédia se abateram sobre o projeto, meticulosamente registrado em um livro escrito pelo historiador Greg Grandin. Desprezando a palavra dos especialistas que poderiam lhes ter dado conselhos valiosos sobre a agricultura tropical, os homens de Ford plantaram sementes de valor questionável e deixaram as ervas daninhas e a ferrugem tomarem conta das plantações.

Apesar dos reveses, Ford construiu uma cidadezinha no melhor estilo norte-americano, que ele queria que fosse habitada por brasileiros talhados para o que considerava os “valores dos EUA”. Seus empregados, então, se mudaram para os chalés de madeira, projetados em Michigan; alguns, por sinal, continuam de pé. Lampiões de gás iluminavam as calçadas de concreto. Trechos delas ainda existem, próximos a hidrantes vermelhos, à sombra de salões de baile decadentes e galpões caindo aos pedaços.
Abstêmio explícito, antissemita e cético em relação à Idade do Jazz, Ford queria que a vida na selva fosse mais transformadora: seus gerentes, todos americanos, proibiam o consumo de bebidas alcoólicas, promoviam jardinagem, danças de salão e a leitura da poesia de autores como Emerson e Longfellow. Completando a missão utópica, as equipes de saneamento atravessavam a cidade matando animais de rua, acabando com as poças d’água onde os mosquitos transmissores de malária podiam se multiplicar e examinando os funcionários para ver se tinham doenças venéreas.
Hoje, as ruínas de Fordlândia permanecem como testamento da sandice que foi tentar submeter a selva à vontade do homem. Visando promover o automóvel como forma de recreação – junto com o campo de golfe, as quadras de tênis, o cinema, as piscinas –, os gerentes fizeram 48 quilômetros de estrada ao redor da cidade, mas os carros quase não transitam pelas vias enlameadas, perdendo feio para as motos, presentes em toda a região amazônica.

Ao final da Segunda Guerra Mundial, já estava claro que o cultivo das seringueiras não seria rentável por causa da ferrugem e da competição da borracha sintética e das plantações asiáticas, livres da dominação japonesa. Ford entregou Fordlândia ao governo brasileiro em 1945, e, daí em diante, a cidade entrou em um estado permanente de declínio.
– Nada acontece aqui, e é assim que eu gosto – diz o pequeno fazendeiro Joaquim Pereira da Silva, 73 anos, que veio de Minas Gerais em 1997 e pagou R$ 20 mil por sua casa tipicamente americana na Palm Avenue. – Os americanos não sabiam nada sobre borracha, mas sabiam construir coisas para durar.
Entre seus vizinhos, gente que planta mandioca onde havia seringueiras ou que cuida de gado zebu, está Eduardo Silva dos Santos, nascido há 66 anos no hospital de Kahn, e que vive em uma casinha perto das ruínas da maternidade.
– Quando ele (Ford) ainda estava por aqui este lugar era limpo, não tinha bicho, inseto, mato na cidade – relembra ele, um dos 11 filhos de uma família que dependia da seringueira. – Meu pai trabalhava para ele e fazia o que mandavam fazer. Empregado é que nem cachorro: obedece.
Para espanto de Ford, nem sempre seguiam à risca suas ordens. Os gerentes tentaram impor a proibição às bebidas alcoólicas, mas os homens simplesmente subiam nos barcos e se dirigiam para uma “ilha de inocência” perto dos bares e bordéis. E, em 1930, os que não aguentavam a dieta imposta pelo patrão, que consistia em aveia, pêssegos em lata e arroz integral, fizeram uma verdadeira revolução. Destruíram os relógios de ponto, cortaram os pontos de eletricidade das plantações e cantavam: “O Brasil é para os brasileiros; matem os americanos”, forçando inclusive alguns gerentes a se esconder na floresta.

A Amazônia impôs seus próprios desafios aos americanos. Alguns não conseguiram se adaptar às condições e acabaram sofrendo um colapso nervoso; um se afogou no rio Tapajós quando uma tempestade virou seu barco. Outro foi embora depois que três filhos seus morreram de doenças tropicais.
Por Simon Romero