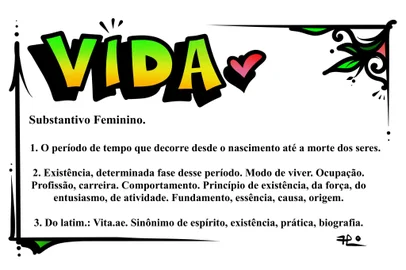Aníver de um ano do filho de um amigo.
Aventura de uma prima pelo interior da Itália.
Final de semana de sol e esporte de uma antiga professora.
Festinhas. Uhu!
Jantares em mesas superarrumadas.
Cachorrinhos fofos e suas proezas.
Gatinhos — ou gatíneos? — fazendo pose.
Eis a vida condensada em uma passagem pela timeline. E aí, os dedinhos não resistem e curtem, curtem, curtem. Carinhas, coraçõezinhos e até mãozinhas com polegares em riste. É a nossa nova forma de demonstrar afetos, reais ou banalizados.
Vocês já se deram conta disso? Estamos conectados com uma rede imensa de pessoas, de perto e de longe, por meio de toques em telas. E quase exclusivamente dessa forma. Tocar alguém de verdade, uma parte significativa de qualquer relação, praticamente não acontece.
Ou demora a acontecer "de verdade".
Estamos diante de uma das tristes contradições da hipermodernidade, esse tempo líquido e que se desenvolve em boa parte no espaço virtual. Nos tocamos sem nos tocar. E somos tocados da mesma maneira.
Pra mim, há todo um simbolismo nisso.
Sou fascinada por mãos (especialmente as masculinas), porque acho que elas sintetizam tudo o que interessa na relação com alguém: a troca de energia e calor, o carinho, a pegada. Força e delicadeza comprimidas em um gesto, um aperto de mão ou um toque no outro. Elas estabelecem ou repelem reciprocidade, elas dão suporte (como pegar um bebê no colo), são fundamentais para a produção (de alimentos, de peças, de conhecimento transmutado em palavras), contam histórias (mãos calejadas dos agricultores são um exemplo óbvio).
Mas estamos limitando nossa interação a pequenas telas de smartphones, com nossos dedos apressados rolando a tela em busca de novidades, acompanhando a vida dos outros em alta definição e a distância. A gente toca a tela, mas não troca o calor com ninguém. Deixamos apenas impressões digitais no vidro. A parte boa é que tocar alguém é como andar de bicicleta. Uma hora, dá vontade e quem sabe pedalar a tira da garagem para ser feliz sentindo o ventinho no rosto.