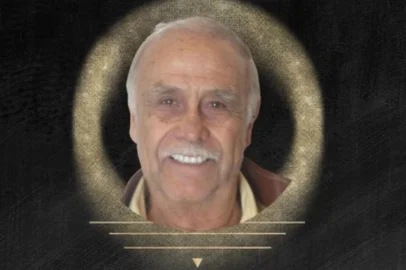Pouco conhecida antes da pandemia do novo coronavírus, a história da gripe espanhola abalou o mundo recém-saído da Primeira Guerra Mundial, em 1918. O interesse súbito pelo episódio levou a diversas novas pesquisas e publicações, entre as quais o recém-lançado livro A Bailarina da Morte: a Gripe Espanhola no Brasil destaca-se pela profundidade com que reconstrói o avanço da peste Brasil adentro.
Esse trajeto é detalhado pelas historiadoras Lilia Schwarcz e Heloisa Starling em capítulos dedicados à maneira como as principais cidades do país foram reagindo à doença – spoiler: com negacionismo, com uso da situação para fins políticos e comerciais (farmacêuticos, principalmente) e com falta de empatia para com as vidas dos outros, inclusive e sobretudo porque foram as classes mais baixas as mais afetadas.
A pandemia de 2020 é a todo instante citada por Lilia e Heloisa, que correlacionam os episódios do passado e do presente, em uma linguagem fluida entremeada com rico material gráfico – fotos de época e reproduções de charges e anúncios de jornais de mais de cem anos atrás. A seguir, elas comentam o trabalho e o que puderam concluir – sobre o Brasil de 1918 e o de 2020.
Vocês afirmam que a pandemia de 1918 “veio mostrar como não sabemos lidar com a morte”, em um cenário parecido com o de 2020: há tumulto e negação no início, temor e insegurança depois. como foi descobrir esses pontos de conexão durante a pesquisa?
Lilia Schwarcz – O processo de produção do livro foi muito bonito. Nós notamos uma falha no nosso livro anterior, Brasil: uma Biografia (2015), que não tratava da gripe espanhola. Logo no início do novo livro, levantamos algumas hipóteses sobre o esquecimento. A história é uma disciplina que traz a questão da memória, mas também do apagamento. O Brasil é um país conhecido por seus cronistas, porém, não contou a doença em suas crônicas. É famosa uma crônica de Pedro Nava que citamos, mas ele a escreveu muitos anos depois. No capítulo sobre Porto Alegre, lembramos de Erico Verissimo, este sim autor de uma narrativa testemunhal da maior importância sobre o episódio. Mas, em geral, não temos histórias sobre a espanhola. Fomos descobrir que há, isso sim, excelentes teses acadêmicas sobre o que aconteceu no período. Consultamos também os jornais, que assim como em 2020 tiveram um papel republicano da maior importância. Em 2020, por exemplo, podemos conhecer os números de contaminação e de mortes por conta de um consórcio de imprensa. Em 1918/19, isso ocorreu também: foram os jornalistas que garantiram que as informações não fossem maquiadas. Outro ponto de contato – com Porto Alegre, em especial – é que nós sabemos que crises sanitárias como essas são recebidas 1) com grandes doses de negação; 2) com a criação de bodes expiatórios; 3) com a criação de teorias da conspiração. Em 1918, existiam várias teorias. Primeiro em relação ao nome: hoje se sabe que a Espanha não foi o primeiro foco; por não estar na base dos conflitos da Primeira Guerra Mundial, tinha uma censura livre e não estava preocupada em deixar de informar. A Espanha divulgou a gripe e levou a pecha. No entanto, por lá, a gripe era chamada de “francesa”. Outra teoria inventada foi a de que os submarinos alemães estariam espalhando a doença pela água. Políticos também se valeram ou sofreram por conta de epidemias. Na capital gaúcha, como estávamos quase em época de eleição, o governo caudilho resolveu censurar totalmente os números da gripe. Nossa maior descoberta foi o sal de quinino, que em 1918 foi recomendado por autoridades mesmo com uma série de contraindicações – uma delas a taquicardia. E o sal de quinino tem basicamente a mesma composição da hidroxicloroquina, que hoje é fartamente apoiada pelo governo brasileiro. Qual é a diferença entre 1918 e 2020? Não conhecemos nenhum presidente de Estado que se transformou em garoto-propaganda do sal de quinino. Isso é uma especificidade de hoje.
Heloisa Starling – Temos a impressão de que o vírus é democrático, mas na verdade não é assim. Ao se expandir, revela tudo o que não queremos ver ou que estava escondido na sociedade, como por exemplo a desfaçatez dos políticos e a desigualdade social, já que os mais atingidos são aqueles que vivem em piores condições, ou seja, os mais pobres, os negros, as populações indígenas. A gripe espanhola escancarou como as reformas urbanas realizadas nas maiores cidades brasileiras à época estavam restritas às regiões centrais. As periferias padeciam de infraestrutura, de salubridade e de socorro médico. Esse é um ponto de conexão com o novo coronavírus: problemas sociais graves ficaram escancarados com a chegada da doença. Outra questão mais pontual: em 1918, não havia Ministério da Saúde. Em 2020, há. Mas, em uma ação deliberada do governo federal, apesar disso, não houve uma ação centralizada para proteger a população do país. Até nisso as duas situações são parecidas, mesmo com um século de distância entre elas.

Em 1918, havia quem acreditasse que a gripe espanhola era uma arma química inventada pela Alemanha. O ambiente era de alguma paranoia e desinformação, o que se repete hoje, tendo como “alvo” a China. Isso pode ter ajudado o surto a se espalhar?
Heloisa – De fato, houve esse ambiente em 1918, algo que fica claro desde quando se deu o nome da gripe ao “outro” – o que é uma forma covarde de encarar o problema. Atribuir ao outro a responsabilidade não é uma coisa nova. É algo que se repete. E em vários locais. Na Polônia, a espanhola se chamou “gripe bolchevique”. Na Pérsia, “gripe inglesa”. Na Alemanha, “peste de Flandres”. Isso é desinformação. Não é “apenas” politizar a doença, mas algo mais violento, que é trazer a questão para o campo da ideologia. Hoje, isso é ainda mais terrível, pelo nível de informação que circula. Quando as pessoas se recusam a tomar uma vacina por xenofobia quanto a sua origem – uma questão ideológica –, e isso é estimulado por governantes, o efeito pode ser devastador.
Lilia – Não acredito que o ambiente de paranoia e desinformação foi o que fez o surto se espalhar em 1918. Acredito que nossa sociedade foi criada para lidar com o corpo saudável e que somos muito pouco aparelhados, inclusive psiquicamente, para lidar com surtos assim. Por isso, esse tipo de situação, por si só, gera sim muita paranoia. Em 1918, não se conhecia qual era a causa da espanhola; se conheciam apenas os sintomas. Então, toda a profilaxia se baseava em sintomas. Nesse sentido, muitos saberes populares ganharam força. Em Belém e Manaus, os conhecimentos locais sobre ervas e frutos foram usados pelas autoridades sanitárias; e não que estas recusassem as indicações dos médicos: elas isolaram o porto, criaram hospitais de campanha, as escolas e o comércio deixaram de funcionar, mas tudo isso conciliado com os conhecimentos locais. Pensando em Porto Alegre, acho muito interessante como a prática do chimarrão foi proibida. No caso de 2020, aí sim penso que a desinformação potencializa o surto, de um modo que não ocorreu em 1918. E isso desde o Ministério da Saúde, que em vez de contar com especialistas, como sanitaristas, médicos, cientistas, é liderado por um general que não está preparado para esse tipo de crise. Para não falar no presidente, que até hoje nega a letalidade da covid-19 e procura maquiar vergonhosamente os números de contaminação.

No capítulo que o livro dedica a Porto Alegre, há relatos sobre a tentativa de comerciantes e outras pessoas de tirarem proveito da situação e sobre a censura à imprensa aplicada pelo governo de Borges de Medeiros. O que chamou a atenção na pesquisa no que diz respeito a como a espanhola se alastrou pelo sul do Brasil?
Lilia – Buscamos seguir o rastro do Demerara e de outros navios que chegaram “espanholados” ao Brasil em 1918. Como mostramos no livro, a doença entra por Recife, desce para Salvador, vai para o Rio de Janeiro, de Santos se desloca para São Paulo, onde toma um vértice para o interior. E de Recife sobe para Belém e Manaus. No Sul, os navios chegam a Rio Grande e contaminam o todo o Estado. O que nos chamou a atenção no Rio Grande do Sul foi que Porto Alegre, que passara por um processo de urbanização semelhante ao de outras capitais, “embelezou-se”, mas para isso expulsou a pobreza do centro para os arredores da cidade. Outro ponto de destaque é a questão política: aqueles que estavam no poder não queriam perdê-lo, sobretudo Borges Medeiros. Foi com o receio de diminuir sua influência que ele aplicou a censura à imprensa. Porto Alegre foi um caso radical de censura à época. Também destaco como a gripe demorou a chegar à capital gaúcha: atingiu o Rio em setembro e só alcançou Porto Alegre em fins de outubro/começo de novembro. Nessa época, já se tinha já notícia das consequências da doença em outros Estados. E mesmo assim as autoridades optaram por desconhecê-las, afirmando que o clima mais ameno da cidade daria um jeito de “banir” a doença. Foi evidente que isso não aconteceu, e a gripe matou, em especial, a população que morava em casebres e sob situações insalubres. As mortes na periferia de Porto Alegre foram muitas.
Heloisa – É impressionante a censura imposta pelo governo de Borges de Medeiros. Em Salvador, o governo local tentou fingir que a epidemia não existia. Em Recife, tudo foi minimizado; a espanhola foi empurrada para debaixo do tapete. Em Porto Alegre, a ordem era não informar. Isso vindo de um governo positivista, que, portanto, estava preocupado com a modernização e com a ciência. Justamente esse foi o problema: um governo positivista não pôde conviver com uma doença que suplantasse os avanços da ciência e o advento da modernidade. Além disso, o governo era profundamente autoritário, era centrado na ideia da ditadura de uma ideologia – a ideologia positivista. Essa radicalização que produziu a censura advém desse autoritarismo.
O que nos chamou a atenção no Rio Grande do Sul foi que Porto Alegre, que passara por um processo de urbanização semelhante ao de outras capitais, 'embelezou-se', mas para isso expulsou a pobreza do centro para os arredores da cidade. Outro ponto de destaque é a questão política: aqueles que estavam no poder não queriam perdê-lo, sobretudo Borges Medeiros. Foi com o receio de diminuir sua influência que ele aplicou a censura à imprensa. Porto Alegre foi um caso radical de censura à época.
LILIA SCHWARCZ
Eric Hobsbawm, citado por vocês, afirmou que o século 19 só terminou com o início da Primeira Guerra Mundial, em um processo que acabou “emendado” com a espanhola. Vocês escrevem: “Quem sabe o século 20 não tenha acabado no ano 2000, mas ainda esteja para terminar; atrasado como estão todos os nossos compromissos. Bem-vindos, finalmente, ao século 21”. É claro que não se pode prever o futuro, mas, com base no período pós-pandemia de cem anos atrás, o que se pode conjecturar sobre esse “novo século” que estaria surgindo agora, inclusive sobre como lidamos com o trauma social histórico?
Lilia – Historiadores não são bons de previsão de futuro; nós somos melhores no passado. Mas há elementos nos quais precisamos prestar atenção. Segundo Hobsbawm, o século 20 só se inicia no final da Primeira Guerra Mundial, e eu acrescentaria que também ao final da gripe espanhola. Se o século 19 e o início do 20 foram o século da ciência, que se tornou uma espécie de mito, esses dois eventos mostraram que a sociedade não estava preparada para lidar com a barbárie existente na civilização ocidental e com as epidemias. Dessa forma, acredito que nós só vamos começar o século 21 quando debelarmos o coronavírus, quando existir uma vacina que dê conta da covid-19. Além disso, muitos aspectos da pandemia vieram para ficar; muitas rotinas de trabalhos se estabeleceram, práticas estão sendo repensadas... Mas digo sempre que sou otimista no varejo e pessimista no atacado porque, se esses pequenos costumes podem ser alterados, muitos deles para melhor, não me parece que as estruturas das nossas sociedades vão melhorar radicalmente. Acho que vamos sair desta ainda mais desiguais. A desigualdade foi escancarada em 2020, assim como havia sido em 1918. Uma epidemia não nos traz nada; o que ela faz é revelar estruturas profundas de um país. No nosso caso, a desigualdade – que tem cor e endereço. E vamos sair com vários traumas. Uma doença existe quando uma sociedade a reconhece. É claro que a doença é uma questão biológica, mas é claro também que a sociedade só a reconhece quando a nomeia, quando a reconhece no seu cotidiano. O que está acontecendo no Brasil? Temos um presidente que se recusa a falar da morte, do luto. E já sabemos que tudo aquilo que não é falado atinge a ordem do recalque, e o recalque retorna como trauma. Nesse caso, trauma social.
Em 1918, a sociedade se organizou de forma a criar laços de solidariedade. Não houve tanta indiferença, na comparação com 2020. Nem o descaso de autoridades. Eu diria, portanto, que a história indica que nesses cem anos a sociedade brasileira se degradou. Está se degradando. Setores da sociedade estão se comportando de forma aviltada. E isso nos faz perder laços de pertencimento, de inserção social, nossa capacidade de se referenciar no outro. Nosso comportamento involuiu nesse período, lamentavelmente.
HELOISA STARLING
Heloisa – Acredito que só vamos conseguir lidar com o trauma que estamos vivendo se formos capazes de vivermos com ele conservando a sua memória. Foi justamente o que não fizemos com a espanhola, que foi apagada da nossa memória. O apagamento não nos dá o conhecimento do que houve. Isso é problemático. O conhecimento que está sendo produzido hoje, com pesquisas e pela imprensa, precisa ser difundido. Precisamos entender e aprender com essa experiência. Deixar de lado não dá.
No trecho final do livro, vocês destacam um ponto de afastamento entre 2020 e 1918: só em 2020 há indiferença de autoridades com relação aos mortos. A que vocês atribuem esse aspecto particular do atual momento?
Heloisa – A diferença do atual momento para 1918 é que até houve negação no início da espanhola, mas mesmo os governantes negacionistas apelaram à ciência quando se viu que não dava para esconder o que acontecia. Outra característica de 1918 foi que a sociedade se organizou de forma a criar laços de solidariedade. Não houve tanta indiferença, na comparação com 2020. Nem o descaso de autoridades. Esses dois aspectos são distintos. Eu diria, portanto, que a história indica que nesses cem anos a sociedade brasileira se degradou. Está se degradando. Setores da sociedade estão se comportando de forma aviltada. E isso nos faz perder laços de pertencimento, de inserção social, nossa capacidade de se referenciar no outro. Nosso comportamento involuiu nesse período, lamentavelmente. É triste pensar que não nos reconheçamos e não entendamos que a vida de um brasileiro tem valor igual à de outro brasileiro. As vidas todas têm valor. Isso não deveria ser esquecido.
Lilia – O que está acontecendo no Brasil, hoje, é muito significativo. Em 1918, encontramos casos de censura, de aproveitamento ideológico e de uso político da doença, mas não deparamos com nenhuma autoridade que seguisse desconhecendo de tal maneira os mortos depois de tanto tempo e de circularem tantas notícias sobre eles. Acredito que este seja um momento único da história brasileira na qual a falta de solidariedade é avalizada pelo chefe do Executivo e pelos seus ministros. Nós estamos vivendo em um país inclemente, impiedoso. Um Brasil que não tem repertório para cuidar da sua população, e isso não é uma coincidência diante da emergência de uma série de governos autoritários, populistas, tecnocratas, que só sabem lidar de uma forma viril com as questões do Estado, por meio de linguagens bélicas e da proliferação do ódio. A incapacidade dessas autoridades de usarem a definição máxima da política, que é a arte de se produzir consensos, e não de falar apenas com o grupo que os elegeram, depõe contra a nossa democracia. E mostra, sim, a passos largos, a erosão interna da nossa sociedade.