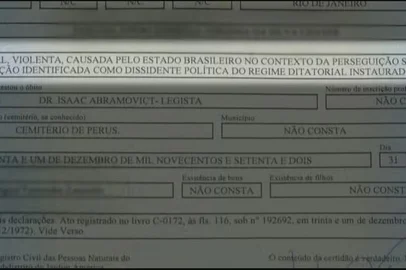Além das diferenças individuais, que marcam cada ser humano como único e exclusivo, ainda existem as características impostas pelo meio em que ele viveu e foi bem ou mal educado. Tudo contribui para forjar cada indivíduo como um exemplar único, à semelhança das impressões digitais, diferentes entre os 7 bilhões de peregrinos do planeta. Um pouco pelo caráter e muito pela educação, algumas civilizações têm atitudes completamente opostas quando confrontadas com situações idênticas. Provavelmente por isso, o Brasil, tão rico em miscigenação, é visto como um grande e inesgotável laboratório do comportamento humano. E o médico, se tiver tempo de ouvir e sensibilidade para depurar, se tornará, compulsoriamente, um especialista em gente, depois de conviver durante alguns anos com os espécimes mais diversos que, além de variados, ainda chegam autenticados pelo medo da morte, o que elimina qualquer possibilidade ou ânimo para a dissimulação. Além disso, como o exercício do disfarce é muito cansativo, o dissimulado, mais cedo ou mais tarde, por distração ou fadiga, se revelará, e nada é tão humilhante quanto a queda da máscara. E, então, a tendência é que quase todo o tempo sejamos do jeito que somos.
Mesmo respeitadas as individualidades, existem comportamentos que se repetem em determinados grupos étnicos, como uma espécie de marca registrada de cada raça. É assim com a discrição absoluta dos anglo-saxões, a inflexibilidade dos orientais, a emotividade ruidosa dos italianos, e o esforço, nem sempre bem-sucedido, de disfarçar alguma desconfiança, dos judeus. Claro que isto não significa que uns e outros tenham mais ou menos emoções. Nada disso. Quer dizer apenas que o jeito de expressá-las ou contê-las é diferente.
Numa manhã, especialmente complicada pela corrida contra o tempo, atendia no ambulatório quando entrou uma velhinha italiana, de cara fofa e bochecha muito vermelha, cheia de desculpas pela intromissão, e pediu para segurar minha mão. Meio sem jeito, ofereci a direita, e ela acrescentou: “Preciso das duas porque não sei qual será a mais importante na operação que você vai fazer amanhã no Vilmar, meu neto querido!” Achei que ela daria uma espécie de bênção e, não querendo criar atritos desnecessários com nenhuma divindade, alcancei-lhe a esquerda também. Ela então beijou a palma de ambas e, antes de sair, deixou sua recomendação final: “Bom, seu doutor médico, já fiz a minha parte, agora vê se capricha!”.
O Dieter estava com quase 85 anos e cumpria a fase final da longa agonia de morrer por enfisema. A pneumologista que o atendia há anos no consultório passou a ser chamada pelo filho para vê-lo em casa, a cada duas ou três semanas, depois que ele perdeu definitivamente a condição de locomover-se. Mesmo com a fraqueza progressiva, o ritual se repetia com toda a solenidade: banho tomado, vestido com elegância, recebia a médica com a fidalguia de sempre. Uma tarde, talvez se sentindo cada vez mais próximo do fim, pediu à doutora: “Meu filho insiste em lhe chamar, mas eu sei o quanto a senhora é atarefada. Então, queria lhe pedir que não se ocupasse mais comigo, porque eu estou morrendo!”. Ao sair, sem disfarçar a emoção, a doutora apoiou a mão naquele ombro magro e pediu: “Não morra, seu Dieter, porque eu gosto muito do senhor!”. De costas para a porta, ele ficou em silêncio até o último instante. Quando ouviu o ruído da fechadura, reuniu todas as forças dos seus pulmões destruídos e disse, alto e silabado, o que deve ter representado para ele a mais eloquente mistura de gratidão com declaração de amor: “É re-cí-pro-co!”.