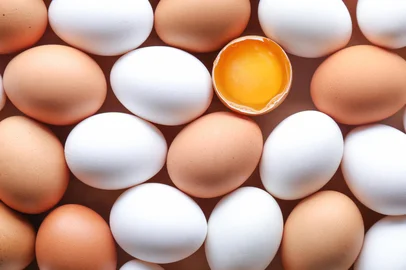Até Darwin pintar na parada, revolucionando a forma como o homem observa a natureza, a biologia era uma ciência descritiva. A ninguém ocorreria investigar por que as girafas têm pescoço comprido ou os morcegos enxergam melhor à noite. Bichos e plantas haviam sido colocados na Terra (plana) do jeito que são – como nós – para servir ao Criador. Não por acaso, até o final do século 18 o estudo da história natural era dominado por pastores, abades, diáconos, monges. Entre outros motivos, porque descrever a imensa variedade de seres da natureza era uma forma de celebrar a grandeza da criação divina.
O jogo começou a virar quando o monge austríaco Gregor Mendel (1822-1884), aquele das ervilhas, passou a se perguntar como um organismo individual transmitia informações a seus descendentes da geração seguinte. Em paralelo, o naturalista britânico Charles Darwin (1809-1882) estava investigando como os seres vivos transmitiam informações sobre suas características ao longo de mil gerações. Os dois lançariam as bases da Teoria da Evolução e de tudo que se sabe hoje sobre genética.
Essa maravilhosa saga da inteligência humana é narrada de forma épica – com muita aventura, suspense e trairagem – no livro O Gene, do médico indiano Siddhartha Mukhrerjee. E por que a pior aluna de Biologia do Colégio Rosário está escrevendo sobre um livro de ciência? Primeiro, porque é uma leitura que eu recomendo muito – e Mukhrerjee vem a Porto Alegre, em setembro, para o Fronteiras do Pensamento. Segundo, porque esse percurso fascinante só foi possível graças a homens como Mendel e Darwin, que ousaram fazer perguntas que contrariavam não apenas a Igreja, mas o senso comum de sua época.
Nesse sentido, arte e ciência têm muito em comum. Ambas são métodos para compreender o mundo (a ciência) e a experiência humana (a arte). Artistas e cientistas erram, mas a arte e a ciência permanecem acima dos erros individuais. Para entender a natureza, o cientista faz perguntas e testa hipóteses. Algumas dessas perguntas podem abalar o status quo – e cientistas como Galileu Galilei e tantos outros pagaram um preço alto por isso. O certo é que nenhum avanço científico é possível onde não existe curiosidade ou não se tem liberdade para fazer perguntas.
Para algumas pessoas, arte é um quadro bonito guardado em um museu – ou aquelas coisas que donos de restaurante gostam de pendurar na parede. Mas a arte, como a ciência, é também um método para fazer perguntas: quem somos, como sentimos, como é o lugar e a época em que vivemos. O artista faz isso usando técnicas que às vezes conversam com o grande público, às vezes não. Assim como a ciência, a arte muitas vezes ultrapassa o próprio horizonte.
Se não dá para culpar o monge Mendel por ter ajudado a implodir alguns dogmas da igreja, não podemos culpar os artistas por desrespeitarem valores estabelecidos na hora de criar, pensar ou criticar. Pode-se gostar ou não do que um artista faz ou diz, mas não se pode exigir da arte que use paletó e gravata, respeite os mais velhos e fique longe dos dogmas e das autoridades. Arte e ciência precisam de liberdade. E o resto é silêncio.
Ou melhor, silenciamento.