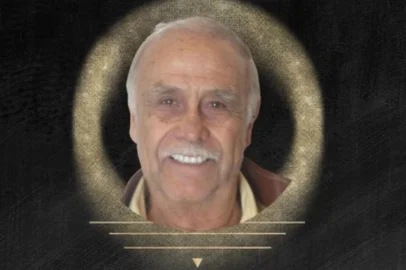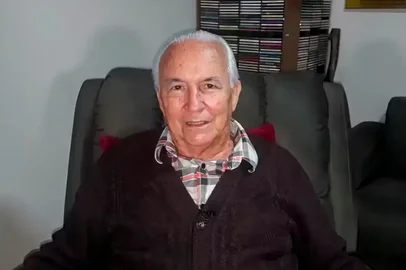Este texto faz parte da cobertura da Copa do Mundo. A seção 'A Copa da minha vida' é publicada diariamente no caderno digital sobre o Mundial do Catar
Deveria ser o tri no México, mas é do penta que guardo as melhores recordações. Até 2002, eu tinha certeza de que, mesmo se vivesse um século, jamais haveria Copa como a de 1970. Porque foi com ela que descobri a existência do futebol, a dramaticidade que só os narradores de rádio são capazes de dar a uma partida e esse sentimento que a cada quatro anos une um país em torno de algo tão etéreo quanto um tricampeonato mundial.
Aos 10 anos, não conhecia TV, nem luz elétrica. Jornais só chegavam à nossa casa enrolando bananas, quando meu pai ia à cidade. O rádio reinava absoluto numa prateleira na sala de jantar. Diante dele, "assistimos" no ano anterior ao pouso do homem na Lua e nos familiarizamos com pronúncias incomuns na nossa aldeia. Houston, Texas, Washington, Neil Armstrong, Buzz Aldrin, Michael Collins.
Se você é capaz de se encantar com a aventura espacial de três americanos a bordo da Apolo 11, sem saber nada de astronomia e sem ter ideia do que é um foguete, uma cápsula ou um modo lunar, imagine-se um ano depois ouvir como se fosse uma poesia o narrador falar de Pelé, Tostão, Jairzinho, Everaldo, Carlos Alberto e outros nomes familiares aos nossos ouvidos. Contei isso a Jairzinho no início deste ano, quando meu marido e eu o encontramos cantando em um bar do Leme e nos emocionamos juntos.
Na nossa inocência rural, não sabíamos que a ditadura militar usava a Copa politicamente. Torcemos como brasileiros, sem ranço e sem ideologia. Meses depois, lendo a revista Manchete que herdávamos do seu Alberto, nosso vizinho inesquecível, a voz transmutou-se em imagem e repassamos incontáveis vezes aquelas páginas amassadas que contavam a conquista do tri. Pelé ganhou um rosto, a taça Jules Rimet um formato.
A maternidade me fez descobrir que a Copa da minha vida não foi a de 1970, mas a de 2002. Nas madrugadas da Coreia do Sul e do Japão, meus filhos Eduardo e Luiza mandavam o pai para outro quarto e dormiam comigo para ver os jogos do Brasil. Luiza, com sete anos e já apaixonada por futebol, fardava-se com a camiseta de Ronaldo no lugar do pijama e me sacudia quando o despertador tocava. Pegava a bandeirinha, amarrava uma fita amarela na cabeça e torcia do primeiro ao último minuto. Dudu, que de futebol entende menos do que eu de rúgbi, cochilava nos primeiros minutos e não despertava nem com os gritos de gol da nossa pequena torcedora.
Ela se frustrava quando tirava os olhos da TV e percebia que eu tinha dormido. Eu acordava e torcia por gols brasileiros só para ver minha filha feliz. Mil vezes ela tentou me ensinar a regra do impedimento, mas quando achava que tinha entendido lá estava eu comemorando o gol anulado. Aquele colchão foi nosso camarote premium. Desde o Penta, torço com Luiza pelo Hexa — em geral longe do Brasil, porque aproveitamos para tirar férias. Vimos o 7 a 1 no Aeroporto do Panamá, voltando de Cartagena, e assistimos à eliminação para a Bélgica na Times Square.
Nos jogos do Catar, é com o pai que ela discute as jogadas, porque sabe que torço com sinceridade, mas sigo vibrando com gols que duram segundos no placar porque, ó raios, o jogador estava impedido.