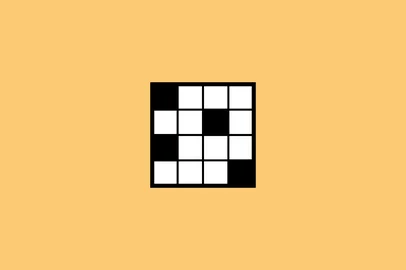A tragédia humanitária dos yanomamis resultou na morte de pelo menos 570 crianças em Roraima e no Amazonas, segundo o governo federal.
Diante das fotos de crianças indígenas esquálidas que chocaram o Brasil, em janeiro, o pediatra gaúcho Alexandre Bublitz decidiu se inscrever, como voluntário, para participar da Força Nacional do SUS, que atua no tratamento emergencial das vítimas. Com a experiência de quem já trabalhou em missão da organização Médicos Sem Fronteiras na Nigéria, o médico de 36 anos adiou plantões no Hospital Presidente Vargas, em Porto Alegre, e reorganizou a agenda na Unisinos, onde é professor do curso de Medicina, e embarcou em 2 de maio para o norte do país. Trabalhou, durante 20 dias, em Surucucu, a 270 quilômetros de Boa Vista, no meio da floresta. De volta à capital gaúcha, ele contou à coluna como está a crise, aprofundada pela ação ilegal de garimpeiros, quatro meses depois do ápice da crise.
Que realidade o senhor encontrou entre as comunidades yanomamis?
Há várias comunidades yanomamis na região, sobretudo em Roraima, onde o garimpo está deflagrado, mas também em parte do Amazonas e até dentro da Venezuela. Eu estava em Surucucu, onde há várias comunidades yanomamis. É um lugar onde há muitos pontos de garimpo, sobretudo em regiões de rios. A grande crise humanitária ocorreu em Surucucu e Auaris. Em todas essas regiões, já existia um sistema de saúde prévio, com profissionais que faziam atendimentos. Mas, nos últimos anos, todo esse sistema de atenção aos pacientes indígenas estava debilitado. Houve um processo de sucateamento, não houve contratações de tantos profissionais. Junto a isso, veio o garimpo, com destruição de terras dessas comunidades, poluição dos rios e conflitos entre indígenas e garimpeiros. Essa região foi uma das mais afetadas por esse processo. Começou a ocorrer vários problemas de saúde. Como os rios estão poluídos, fica dificultada a pesca e a caça. As terras onde havia plantações de mandioca e bananas foram afetadas. Começou a haver casos de desnutrição infantil e malária.

Como é a estrutura para atendimento médico à população indígena?
Esse local em que fiquei, Surucucu, é um polo base, um centro de referência para atendimento dessas comunidades. Sempre que havia um problema de saúde, a pessoa era levada para lá. A estrutura é composta por uma casa de madeira na qual havia local para a internação dos pacientes. Como a população indígena não usa cama, são montados leitos em redes. Depois da intervenção do governo, foram criadas tendas para maior atendimento, onde há ventilador mecânico, desfibrilador e uma estrutura para pacientes mais graves. Outra curiosidade é que, em qualquer hospital, você tem direito a um acompanhante. Lá também, dificilmente, o paciente vai sozinho. Mas busca atendimento médico com um monte de gente: se vai a mãe e um dos filhos, tem de ir os demais filhos juntos. Por uma questão cultural e porque elas não têm com quem deixar. Assim, junto com os pacientes, a gente acaba acolhendo um monte de gente.
E os demais acabam recebendo atendimentos também?
A gente aproveita para atender os outros. Fizemos triagem de malária, tratamento de parasitose.
Em que situação o senhor encontrou as crianças?
A ideia era fazer um tratamento de casos agudos, sobretudo de crianças com desnutrição. Usamos um "Middle Upper Arm Circumference" (Muac) para medir o grau de desnutrição pelo tamanho da circunferência do braço. Quando ela é menor do que 115 milímetros, a criança é classificada como desnutrida. Havia algumas com quadro de malária e outras com desnutrição crônica. Elas vinham recebendo pouco alimento havia muito tempo. Isso afeta crescimento, imunidade e desenvolvimento. Mas elas se mantinham. O problema é que, quando pegam uma doença, uma pneumonia, uma infecção intestinal ou malária, afundam. Não conseguem se alimentar direito. E aquele quadro, que é estável de desnutrição crônica, agudiza e vira uma desnutrição aguda severa. É o que a gente acaba vendo: emagrecimento nas pernas, na região das costelas, no rosto. A gente via vários casos de crianças com as pernas emagrecidas, mas também pessoas de 50 anos com a aparência envelhecida, com quadro de malária: uma mulher adulta pesando 30 quilos, bem emagrecida, com os braços finos, sem força e com dificuldade de locomoção.
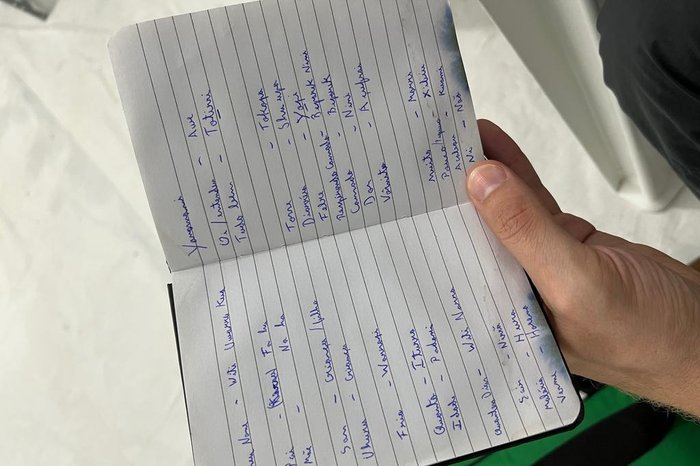
Qual era a sua função?
Existe lá, hoje, uma equipe com cinco médicos, todos contratados pelo Programa Mais Médicos. Fomos em duas equipes, com um médico em cada, e dois enfermeiros, para darmos suporte à equipe local, que é muito boa, mas voltada para medicina de família.
Como é o acesso ao local onde ficam essas comunidades?
A gente foi de avião. Surucucu é uma local de montanhas, com acesso mais difícil. Nessas áreas, os indígenas chegam ao polo a pé, por trilha. Trechos que eles percorrem em três horas a gente demoraria 12. Para locais mais afastados, utilizamos helicópteros. Há uma base de um Pelotão Especial de Fronteira do Exército, que fica ao lado do polo. O avião pousa lá. Inclusive fui resgatado à noite por esse pessoal.
Esses são desafios que existem diante da população indígena como um todo: entre yanomamis no Norte, mas também aqui no Sul, entre os guaranis e os caingangues.
Por quê?
Fui fazer uma missão na comunidade de Xocori, em território indígena. Fomos de helicóptero. Muitas comunidades estavam havia muitos meses sem atendimento. Dormimos lá quatro dias em redes, em uma das malocas. Atendemos quase 90 pessoas: aplicamos vacina em crianças e adultos, tratamos doenças parasitárias, verminoses, e fizemos triagem de desnutrição. Foi a parte mais bonita da minha experiência, porque pude passar alguns dias dentro de uma comunidade yanomami. O chefe da comunidade chama-se João, que nos acolheu super bem. Ele também é um líder espiritual, que faz cura, invocando espíritos da floresta. Ele fala português, mas a maioria, não.
Como o senhor se comunicava com os indígenas?
Eu tinha um caderninho no qual anotava algumas palavras. Sabia falar febre, tosse, vômito, diarreia, para conseguir fazer minhas consultas. Mas a gente sempre tinha tradutor no local.
O senhor falou em resgate. O que houve?
A gente identificou uma criança de cerca de um mês de idade. A mãe havia abandonado essa menina. Culturalmente, isso acontece porque elas não têm alimento suficiente ou enfrentam dificuldade na criação. A avó passou a cuidar do bebê. Como ela não tinha leite, estava dando uma papa de banana, que, obviamente, não tem os nutrientes necessários para essa criança crescer. Quando a gente chegou lá, a criança estava com sinal de sepse, infecção generalizada: muito fraca, pulsos frágeis, poderia vir a óbito na sequência. Entramos em contato com o polo da missão, por telefone via satélite. Sabendo da presença do garimpo na região e desse caso de maior gravidade, foi acionado um helicóptero da Marinha. A gente foi resgatado. Não esperávamos que fosse à noite. Mas foi muito bom. Conseguimos levá-la imediatamente para o polo base, e essa criança sobreviveu. Iniciamos com antibiótico rapidamente, e no dia em que voltei para Porto Alegre, ela estava bem melhor.
Que dificuldades havia para trabalhar?
Há várias questões culturais que são difíceis. A língua yanomami naquela região não tem números. Eles não contam as coisas com números. Se preciso dar um antibiótico, que a gente tem de fazer uso de oito em oito horas por sete dias, por exemplo, não consigo prestar esse tratamento. Então, fazemos de forma assistida: precisa ter alguém que vá lá, dê o remédio, veja que a pessoa está tomando e segurá-la pelos dias necessários. Isso dificultava muito nosso trabalho. O próprio entendimento de saúde que aquela população indígena daquela região tem é muito mais vinculada a uma questão espiritual. Quando alguém está doente é porque tem um espírito do mal no corpo. Então, o tratamento é muito mais espiritual do que normalmente por medicação. Quando você precisa internar um paciente, pegar um acesso, colocar uma sonda, isso causa uma estranheza muito grande e, por vezes, é visto como uma violência para eles.
Como o senhor viu a relação dos indígenas com o garimpo?
O garimpo está presente em todos os locais. E boa parte da comunidade indígena acaba também se vinculando e trabalhando no garimpo. Essas comunidades são, muitas vezes, compradas com escampo, como há 500 anos, quando indígenas recebiam espelhos (dos colonizadores). Eles fazem essas trocas hoje: armas, sabonetes, bolachas. Os garimpeiros entram nas comunidades e compram o acesso às terras. Na região onde eu estava, a cerca de três horas de caminhada, havia um garimpo. O João, o chefe da comunidade, tinha uma espingarda que havia sido dada pelo garimpo. A gente percebe essa interconexão. É uma coisa muito difícil, porque é uma comunidade que não tem acesso às coisas que temos. Sabonete, para eles, não é algo que conseguem facilmente. Então, aquilo tem um valor alto: ter sabonete, conseguir tomar banho, acesso à comida um pouco diferente, arroz...
O senhor chegou a suspeitar de casos de aliciamento infantil?
Dá para suspeitar e ver. As crianças falam. Na própria comunidade, não haviam nos dito que havia um garimpo ali perto, e a gente ficou sabendo por meio das crianças. Elas disseram: "Olha, no garimpo tem internet". Tem esse envolvimento que segue e não vai acabar tão rápido.
O senhor visualizou áreas de garimpo?
Só a partir do helicóptero. O garimpo fica sempre junto ao rio. Consegue-se ver que há o rio e, em volta, áreas desmatadas e com terra. A água é desviada para bolsões, onde é utilizada para limpar, peneirar e se fazer a retirada do material. O problema no território indígena yanomami é crônico. Hoje, existe uma situação emergencial lá, e o governo está tentando melhorar a situação daquela população, mas a gente sabe que ainda há muitas coisas por fazer. Esses desafios não vão ir embora tão cedo. Inclusive são desafios que existem diante da população indígena como um todo no Brasil: entre yanomamis na região Norte, mas também aqui no Sul, os guaranis e os caingangues. Só vamos conseguir solucionar esses problemas quando tivermos a participação da população indígena junto, quando eles puderem tomar a frente desse processo e possamos ouvi-los e ajudá-los nessa luta, que é de todos nós.