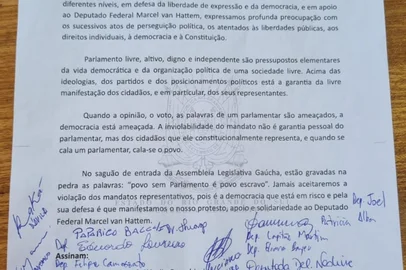O presidente dos Estados Unidos, Joe Biden, desembarcou no Oriente Médio para uma viagem que tem vários impactos geopolíticos envolvidos - e com repercussão global.
Primeiro, ele desembarca em Israel, aliado incondicional americano na região. É sua primeira visita como presidente dos Estados Unidos. Chega a um país paralisado pela crise política, depois da fragmentação da aliança de partidos de diferentes ideologias que conseguiu sustentar um governo por um ano. Não mais: Israel terá a quinta eleição em três anos, e Benjamin Netanyahu, o mais longevo dos primeiros-ministros e desafeto de Biden, pode voltar ao poder.
O presidente democrata irá se encontrar com o atual premier, o centrista Yair Lapid. Mas provavelmente também terá uma reunião com Netanyahu, um político que segue a linha Donald Trump. Os dois não têm afinidades, inclusive, em 2010, quando Biden era vice de Barack Obama, Bibi, como é conhecido o ex-premier israelense, humilhou o americano às vésperas de sua chegada, desdenhando da agenda democrata e anunciando a construção de mais de mil casas em colônias judaicas em Jerusalém Leste, ocupada na Guerra dos Seis Dias, em 1967.
O grande momento da viagem de Biden deve ser na Arábia Saudita, o aliado útil. O presidente americano deve fazer história ao se tornar o primeiro chefe de Estado dos EUA a viajar na recém-inaugurada rota Tel Aviv-Riad. Mas não será uma viagem sem turbulências. É ano de eleições nos EUA, as "midterms", em novembro, e os críticos domésticos questionam um provável encontro com o herdeiro do trono saudita, Mohammed bin Salman.
Aliás, Biden já chamou o príncipe de pária internacional, por sua suspeita de envolvimento como mandante do assassinato do jornalista Jamal Khashoggi, no consulado do reino em Istambul, em 2018.
Mas é aquela coisa: o inimigo do meu inimigo é meu amigo. Por isso, o aliado útil. A Arábia Saudita, de maioria sunita, é chave na oposição ao Irã xiita. Mais do que uma questão religiosa, essa é uma posição geopolítica - os aiatolás, com influência na Síria, são aliados da Rússia. É preciso, mais do que tudo, nesse momento, marcar posição.
Biden também tem um interesse imediato: convencer os sauditas a aumentarem a produção de petróleo e, assim, baixar os preços dos combustíveis no mercado internacional (e interno) - o que pode ajudar os democratas a amenizarem a derrota provável nas eleições de novembro. É a forma encontrada pela Casa Branca para reduzir os impactos do aumento dos preços devido ao conflito na Ucrânia.
A visita de Biden é também uma forma de mostrar ao mundo que os EUA não abandonaram o Oriente Médio. O democrata nega essa realidade, como escreveu no jornal The Washington Post, em artigo no final de semana. Mas a verdade é que a grande estratégia americana está voltada, desde antes do conflito na Ucrânia, para a contenção da China e da Rússia.
A região mais volátil do planeta entra no contexto por dois aspectos: como fornecedor de energia (petróleo) e pelo jogo de poder. Antes de invadir a Ucrânia, a Rússia de Vladimir Putin angariou respeito internacional ao se tornar pacificadora da Síria - justamente ali, no Oriente Médio. E a Turquia, o aliado muçulmano fundamental da Organização do Tratado do Atlântico Norte (Otan), também está localizado naquela região.
Biden pretende conformar com as monarquias do Golfo, muitas delas ditaduras, um acordo de defesa contra o Irã - leia-se contra grupos extremistas xiitas, como Hezbollah, a curto prazo, mas também contra a Rússia.
Sobre o processo de paz entre israelenses e palestinos, a visita terá pouco impacto, mas não deixa de ser importante. Biden quer rasgar a doutrina Trump para o Oriente Médio. Foi durante o mandato do republicano que a embaixada americana foi deslocada de Tel Aviv para Jerusalém, em um agrado aos conservadores. Biden ainda não irá reverter essa mudança, mas, ao menos, como defensor da política de dois Estados (um israelense e outro palestino), irá aos Territórios Palestinos, visitando o enfraquecido presidente da Autoridade Nacional Palestina (ANP), Mahmoud Abbas, em Belém.