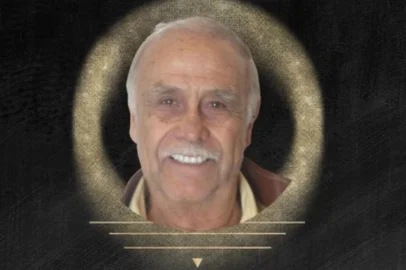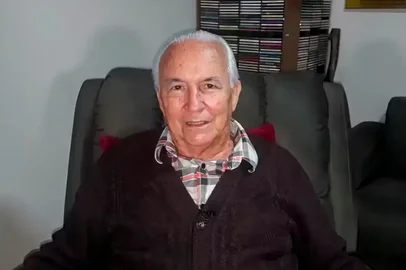No Brasil, uma mulher é estuprada a cada 11 minutos, segundo registros oficiais. Um estudo do Datafolha encomendado pelo Fórum Brasileiro de Segurança Pública e divulgado no dia 21 de setembro apontou que, para 32% das mulheres, as "mulheres que se dão ao respeito" não são estupradas. Entre os homens, o índice de quem tem essa opinião sobe para 42%. Apesar dos dados alarmantes, a promotora de Justiça do Estado de São Paulo, Valéria Scarance Fernandes, é firme ao dizer que estamos evoluindo.
A promotora de 45 anos se tornou uma das principais referências do Brasil na luta contra a violência doméstica. Coordenadora do Núcleo de Gênero do Ministério Público de São Paulo e atual Coordenadora Nacional da Comissão Permanente de Combate à Violência Doméstica e Familiar contra a Mulher (Copevid), Valéria viaja o país propondo um novo olhar.
– O enfrentamento da violência contra a mulher envolve repensar nossos valores e nossa história.
E já demos o primeiro passo – diz a promotora, que já representou o Ministério Público do Brasil junto à ONU para tratar do tema.
Em entrevista a Zero Hora, Valéria falou sobre os desafios para superar preconceitos e promover uma sociedade mais igualitária, destacou as limitações das instituições no enfrentamento das questões de gênero e analisou a atitude do promotor gaúcho que constrangeu e agrediu verbalmente uma jovem.
LEIA MAIS:
> Maria da Penha: "Muitas vezes, o agressor é dócil em público"
> Quase 70% das mulheres já sofreram violência em universidades
> Um terço dos brasileiros culpa mulheres por serem vítimas de estupros, aponta pesquisa
Como surgiu seu interesse pelo tema da violência contra a mulher?
Há cerca de 15 anos, participei de um júri que me causou inquietação. Era de uma vítima de tentativa de feminicídio, uma adolescente grávida atacada pelo namorado. Ela sobreviveu, mas a criança acabou falecendo. O namorado havia batido com uma panela de pressão na barriga da adolescente, grávida de sete meses. Foi um fato muito grave e, em plenário, a vítima inocentou o réu. Essa postura me deixou intrigada, inquieta, quanto aos motivos pelos quais, diante de um fato tão grave, mesmo tendo perdido a própria filha, a adolescente havia perdoado o parceiro. Me motivou a estudar para tentar compreender a violência de gênero, que tornava as mulheres vítimas silentes e incapazes de reagir diante de quadros tão graves. Desde então venho estudando a questão de direitos humanos, e há seis anos atuo exclusivamente com a violência contra a mulher.
Ao longo de sua carreira, encontrou dificuldades para tratar sobre o tema da violência de gênero no Brasil? Acredita que o país está atrasado nessa questão?
Sim, no Brasil há muita dificuldade de se enfrentar a violência contra a mulher. O problema inicial era a ausência de legislação, o que foi superado com a Lei Maria da Penha. Mas, atualmente, temos outra dificuldade, que é a ausência de estrutura nas instituições e no sistema de justiça. Não há delegacias de atendimento em todas as cidades, não há varas especializadas em muitos locais, não há uma integração da rede de atendimento com o Ministério Público e o Poder Judiciário. Faltam casas de passagem (acolhimento provisório). Mas há um problema maior, que é a cultura ainda totalmente arraigada do machismo e do sexismo, da discriminação contra a mulher. Já avançamos neste quesito, mas ainda falta muito. A pesquisa divulgada pelo DataFolha e pelo Fórum de Segurança Pública este mês revela exatamente isso, 37% da população concordam com a frase de que se as mulheres "se dão ao respeito não são estupradas" e 30% que se a mulher usa roupas "provocativas" não pode reclamar do estupro. Esses dados mostram a dimensão do machismo e da inversão da culpa no Brasil.

Como você avalia a "transformação" da sociedade brasileira 10 anos após a Maria da Penha?
A lei é um marco histórico e cultural no nosso país, de transformação não só jurídica mas também de mentalidade. Está centrada no conceito de gênero, prevê cinco formas de violência e trouxe aspectos fundamentais como o fato de ser aplicável a todas as mulheres, independentemente de origem, escolaridade, condição social, raça. Esse aspecto é muito relevante porque, embora a violência doméstica atinja uma a cada três mulheres no país, há uma falsa noção de que só acontece com pessoas desprovidas de condições econômicas e de estudo. E o direito ao respeito, que a lei prevê, compreende não só a proibição da prática de violência, mas também da discriminação contra a mulher nos meios de comunicação, pela repetição de padrões sexistas.
Leia mais:
> Declarações de promotor contra vítima de abuso sexual chocam desembargadores no Rio Grande do Sul
> Vítimas de estupro sofrem também com a impunidade
> Congresso tenta mudar Lei Maria da Penha
Mas essa repetição de padrões é algo que continuamos presenciando hoje.
É difícil mudar uma concepção que se perpetua há centenas de anos. Mas, por outro lado, a capacidade de se indignar diante de uma discriminação, de uma ofensa, da sexualização de uma criança, é um sinal importante de evolução. E é o que vemos hoje. Há duas décadas, os meios de comunicação divulgavam imagens de crianças sexualizadas, de mulheres nuas e seminuas sem que isso causasse estranhamento. Hoje já somos capazes de identificar essa violência simbólica, essas repetições de padrões que naturalizam a violência contra as mulheres.
Atualmente, deparamos com diversos movimentos contra a violência doméstica, como campanhas online, que promovem mais debate sobre o tema. Ao mesmo tempo, temos relatos de situações preocupantes, como o estupro coletivo de uma jovem de 16 anos, ocorrido em maio no Rio, e índices altos de mulheres agredidas por parceiros. Estamos andando para frente ou para trás?
Acredito que demos um primeiro passo, que é o início de uma mudança de pensamento. A evolução foi a mudança de olhar, foi passar de uma sociedade permissiva para uma sociedade que não tolera quem "revitimiza" a vítima. Mas ainda é necessário investir em educação, capacitação e formação de profissionais, criar campanhas preventivas, integrar autoridades públicas e sociedade. Um primeiro passo já foi dado, resta trilhar com segurança o longo caminho.
Quais são, então, os desafios mais imediatos para enfrentar essa questão?
Temos o desafio estrutural, que é mais fácil de ser vencido por ser patrimonial. Mas o principal desafio é aplicar a lei em sua integralidade, pois ela própria prevê o direito ao respeito à mulher. Se a lei fosse integralmente aplicada, o Brasil não seria um dos países que mais matam mulheres no mundo. Essa é a questão mais complexa, porque envolve enfrentar e superar barreiras individuais e culturais que geram resistência ao tema. São padrões sexistas naturalizados na nossa sociedade e presentes em todas as instituições. Isso faz com que ocorra, muitas vezes, a vitimização secundária, ou "revitimização", que é a análise da conduta da vítima, sua história, suas vestimentas, comportamentos anteriores. Falta, muitas vezes, o respeito à imagem da vítima. E isso em toda a rede de atendimento e sistema de justiça. Não em todas as autoridades, mas em maior ou menor grau em todas as instituições.
Leia mais:
> Condenado ex-padre acusado de estupro em Caçapava do Sul
> Acusado de estuprar e jogar adolescente de penhasco é condenado
> Independência financeira é saída para o fim da violência doméstica, diz Ludy Green

Recentemente, tivemos um caso revelado por Zero Hora: um promotor do Rio Grande do Sul humilhou uma vítima, que tinha apenas 13 anos. Como você avalia o comportamento do promotor?
Os comentários do promotor foram desnecessários e sexistas. A vitimização secundária, por parte de autoridades públicas, tanto homens quanto mulheres, ocorre em muitos inquéritos e processos por crimes sexuais em razão da chamada "cultura do estupro" e de padrões naturalizados que culpabilizam a mulher. Por isso, é comum haver questionamentos sobre roupas, a conduta da mulher ou menina, ingestão de álcool, o que a vítima fazia naquele local, como se tivesse provocado o agente. Na verdade, os questionamentos deveriam ser: o fato aconteceu? Quem praticou? Quais circunstâncias? O objeto de prova é o estupro e não a personalidade da vítima, que deve ser protegida e não atacada no processo. Por isso, a revitimação é tão grave, inverte-se a situação: transforma-se a vítima em ré.
As declarações do promotor configuram violência institucional?
Acho que quem deve dizer isso é a corregedoria.
Por que esse tipo de comportamento ocorre, e não é incomum?
As autoridades públicas estão inseridas no mesmo contexto da sociedade, e por vezes reproduzem os padrões discriminatórios e sexistas em seus comportamentos e decisões.
Na audiência, a menina estava acompanhada somente da mãe. Há quem defenda que crianças e adolescentes tenham advogado próprio nessas audiências, acompanhamento, talvez, pela defensoria pública. Como avalia essa possibilidade?
O posicionamento do Ministério Público é de que todas as vítimas de crimes de gênero devem ter assistência jurídica e deveriam estar acompanhadas de um defensor público. Na Lei Maria da Penha, há previsão de que exista essa assistência, mas não é uma prática comum.
Desembargadores acusam a juíza de ter sido omissa por não interferir na atuação do promotor. Como você entende o comportamento dela frente a essa situação?
Ao juiz ou juíza incumbe presidir a audiência e advertir as partes em caso de excesso de linguagem e perguntas que induzirem a resposta, impertinentes ou repetitivas. Assim, a juíza poderia ter interferido e indeferido as perguntas efetuadas, inclusive fazendo constar que não permitiria essa linha de atuação excessiva e desrespeitosa. Nossa lei prevê não só a preservação da intimidade da vítima durante a produção da prova, como também a possibilidade de indeferimento de perguntas impertinentes. Na audiência, cabe ao juiz agir para evitar excessos das partes.
O que o Ministério Público pode fazer para afrontar este tipo de conduta?
O Ministério Público atua na proteção das vítimas. Assim, ao constatar a violação do direito de uma pessoa, deve agir para protegê-la. Além disso, o Ministério Público tem trabalhado para a prevenção da revitimização mediante campanhas de conscientização e programas de capacitação, já que a raiz da discriminação da mulher está em concepções naturalizadas dos papéis reservados aos homens e mulheres em nossa sociedade. São construídas, mas incorporadas pelas pessoas como se fossem naturais. Assim, aprende-se desde cedo que o homem é forte e valente, a mulher, calma e conciliadora; a mulher, fiel, e o homem, conquistador, e assim por diante. Se a mulher se afasta desse papel social, o homem se sente legitimado a praticar a violência. Do mesmo modo, se a vítima não condiz exatamente com o papel social de "boa moça" e recatada, a sociedade a julga como se tivesse provocado a violência ou o estupro. Isso é cultura do estupro. As campanhas e a capacitação servem para desnaturalizar o que já está naturalizado. Para mudar esse olhar e culpar o único responsável: o estuprador.

No seu livro Lei Maria da Penha: o processo penal no caminho da efetividade, você defende uma abordagem multidisciplinar para se tratar do tema da violência de gênero. Pode explicar melhor?
O enfrentamento não pode se dar apenas no âmbito jurídico, ele tem que incluir também a oportunidade de intervenção e transformação para a vítima, para sua família e para o autor da violência. Muito mais do que o aspecto punitivo, que é necessário, deve-se proteger a mulher, encaminhar o agressor para um grupo reflexivo ou um programa de reeducação. A família também deve ser encaminhada para uma rede de apoio. Com um assessoramento multidisciplinar, é possível proteger e transformar as pessoas envolvidas.
A violência contra a mulher é discutida da maneira correta? É preciso falar mais sobre isso, ampliar o debate na sociedade?
Sim e não. A violência contra a mulher é muito discutida, está em evidência, um fato positivo. Por outro lado, as discussões devem ser mais reflexivas e profundas, para que tenham efeito transformador. É preciso conscientizar a sociedade de que o agressor é um homem comum, primário e de bons antecedentes, que incorporou um padrão violento ao longo da vida. Assim, embora seja um bom amigo, funcionário respeitoso e exemplar, pode ser um homem violento dentro de casa. Além disso, é preciso entender que a violência não tem relação direta com dinheiro, classe social, idade e estudo. Por isso, mesmo uma mulher bem-sucedida pode sofrer violência e risco de morte, já que a vulnerabilidade ocorre dentro de casa, na relação afetiva, e não externamente. É preciso entender ainda que a mulher vítima de violência se retrata e perdoa o agressor em razão de um sentimento dúplice de amor e medo, em razão de uma fragilidade gerada pela violência, não pela ausência de risco. Por fim, as discussões deveriam ressaltar o efeito da violência para os filhos, pois é uma completa ilusão pensar que a violência contra a mulher não afeta gravemente as crianças e que o direito do pai deve prevalecer ao bem-estar das crianças. A violência devasta tudo o que está à sua volta, inclusive os filhos e filhas.
Nossa sociedade ainda é muito machista?
Nossa sociedade é machista e discriminatória, embora esteja em processo de transformação. Tanto os homens quanto as mulheres discriminam mulheres. Por vezes, os julgamentos morais mais rigorosos são justamente das mulheres "vencedoras". Eu já ouvi comentários como "agora você não precisa estudar mais, né? Para mulher, doutorado está bom", "por que você quer dar aula, você já não é promotora?", "você é a mãe, deveria ficar em mais em casa", além de palavras como "feminazi", "Dra. Maria da Penha" etc., porque atuo na defesa das mulheres. Ou seja, nenhuma mulher escapa destes comentários, brincadeiras e discriminações.
Qual é o principal desafio da Justiça brasileira, hoje, na tentativa de acabar com a violência contra a mulher?
Implementar efetivamente a Lei Maria da Penha.
E o desafio da sociedade?
Aprender a dar ao próximo o tratamento que gostaria de receber.