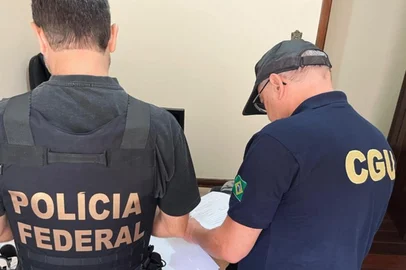Quando a chuva começou, entre o final de abril e o início de maio de 2024, Kayo Soares participava de audiência pública ambiental em Rio Grande. O risco interrompeu o processo. Um ano depois, o fundador e CEO da Arvut, empresa de consultoria ambiental vê avanços na consciência climática no Estado e até nas obras estruturantes, que considera as mais importantes. Mas o profissional que é , é oceanólogo, engenheiro civil e mestre em Oceanografia Física, Química e Geológica pela Universidade Federal do Rio Grande (Furg) alerta que é preciso acelerar, com planejamento. E vê na elaboração de projetos um desafio para o RS sair mais forte da catástrofe.
Depois da enchente no RS, cresceu a conscientização sobre mudança do clima, mas ainda há distância entre teoria e prática. É assim mesmo?
Os movimentos costuma ser feitos após as catástrofes. O Japão, apesar de ter um ótimo sistema de monitoramento, só foi aprofundá-lo após o tsunami. Separo as ações em urgentes e importantes. O próprio Plano Rio Grande tem ações emergenciais, estruturantes e de governança. Se destrincharmos as rubricas orçamentárias, vamos identificar que dos quase R$ 7 bilhões anunciados, a maioria é para ações urgentes, como recuperação de estradas. Uma pequena parcela é para ações estruturantes, que chamo de importantes, que fazem com que as catástrofes virem oportunidade para melhoria.
O que isso significa?
O RS tem uma situação particular. Antes, apesar de outros problemas, discutir mudança no clima no Brasil parecia etéreo. No RS, vimos a cara da mudança climática. Ações estruturantes ganharam importância, como mudança de matriz energética, maior preocupação com a pegada ecológica dos produtos que consumimos, infraestruturas resilientes. Vamos ter de trabalhar com a conscientização da população, que tem de entender como responder a outros eventos. Quem vive em áreas de vulnerabilidade terá de sair, vamos ter de construir caminhos seguros, educar. Em um terremoto, os japoneses sabem o que fazer. No Brasil, quando tiver outra enchente, não. Temos de entender que é a realidade que vamos viver, principalmente no RS que deve ficar com o clima mais extremo.
Mudança climática também é um ativo econômico, e se não for trabalhada, vira um passivo.
Como pode se estruturar?
Nos países desenvolvidos, o nível de investimento em prevenção climática é muito maior. Mudança climática também é um ativo econômico, e se não for trabalhada, vira um passivo. Temos de cuidar do urgente, mas também planejar e implementar o importante. É o que vai nos fazer emergir da enchente mais resilientes e mais fortes. Não quero criticar nem apontar dedo, mas há obras urgentes que precisam ser feitas, e temos discussões que estão atrasadas.
A ficha caiu para todo mundo que tinha de cair?
Talvez não. Vemos certa disputa entre municípios, Estado e União, o que é danoso para o processo. E existe dinheiro a ser captado, por exemplo, em fundos internacionais climáticos. Alguns municípios conseguem captar, mas faltam bons projetos. Precisamos pensar como nos estruturar para captar os recursos disponíveis. Os bancos de fomento do RS tentam criar linhas de financiamento para transição energética, mas precisaríamos ter um escritório de projetos captando recursos internacionais. Ficamos pensando só no orçamento da União. Não tentar ampliar as fontes mostra que a ficha não caiu totalmente. Precisa de muito mais recursos, mas existem os que não acessamos por falta de articulação política, ou de interesse.
Como temos rubricas para saúde e educação, teremos de direcionar parte do orçamento para questão climática.
Formatar projetos é problema de todos os governos?
Temos muitas empresas com capacidade de produção de projetos e muitas até com projetos já feitos no PAC. O Estado tem capacidade técnica na iniciativa privada ou nas universidades, para trabalhar de forma articulada com foco em ampliar as fontes de financiamento. Um exemplo: a fundação Boticário abre edital para projetos em municípios gaúchos atingidos, com foco em estruturas de engenharia ou baseadas na natureza, como barreiras verdes. Ou seja, existem ferramentas para não só construir, mas também focar na elaboração de projetos. Tem muito mais dinheiro fora do que o orçamento brasileiro teria capaz de aportar.
Um ano depois da enchente de maio, estamos no ponto certo ou atrasados?
Estamos dentro da média do Brasil. Temos dificuldade de dados para mapear exatamente quanto tempo leva até as respostas. Mas o Katrina aconteceu em 2005, e em 2012, veio o Sandy, outro furacão na mesma região e demonstrou falhas graves na gestão de risco. São sete anos. Como temos rubricas para saúde e educação, teremos de direcionar parte do orçamento para questão climática. O RS trabalhava, em 2024, com 0,1% do orçamento para a prevenção de desastres, enquanto países desenvolvidos, entre 1% e 5%. Depois surgiram receitas extraordinárias. Estamos trabalhando com a ideia de construção de um Estado mais descarbonizado, com ações estruturantes. Mas a rubrica ainda é uma porcentagem pequena do aplicado.
Está acontecendo, mas é preciso acelerar para que não seja um novo evento que nos mostre o que tínhamos de ter feito de proteção, de alerta ou de treinamento.
Você vê ações mais estruturantes já em desenvolvimento?
É preciso tomar cuidado, porque há oportunismo ou equívoco, e às vezes ambos. Uma das questões mais discutidas é a dragagem do Guaíba, mas estudos do IPH (Instituto de Pesquisas Hidráulicas) mostraram que, se tivéssemos toda a hidrovia com 4 metros a mais de profundidade, os efeitos em Porto Alegre poderiam ter sido piores, porque a enchente chegaria mais rápido. É essencial tanto para não trancar a economia do quanto para termos um modal com menor emissão. As redes de monitoramento feitas no Jacuí, a reativação do radar de Pelotas: temos trabalhos estruturantes bem-feitos. Porto Alegre também tem uma sala de situação que monitora, agora, os dados todos integrados, modelagens hidrológicas e de meteorologia. Está acontecendo, mas é preciso acelerar para que não seja um novo evento que nos mostre o que tínhamos de ter feito de proteção, de alerta ou de treinamento.
Qual é o principal gargalo?
O Brasil é um país que planeja pouco, o que falta é planejamento. E para esse tipo de resposta à mudança climática, planejar e olhar no longo prazo são essenciais. O principal gargalo é a falta de histórico de planejamento, que nos deixa agora em xeque, porque há uma demanda urgente, todo mundo quer dar resposta rápida, todo mundo quer cobrar e ver obra. Não é excesso de burocracia, não é falta de capacidade técnica, não é falta de recurso nacional, não é falta de vontade política, é falta de cultura de planejamento.
Somos a última geração que pode fazer algo para mitigação da mudança do clima. As próximas não vão conseguir.
As práticas da sociedade estão alinhadas à consciência da mudança no clima?
Cada vez mais. As pessoas da geração Z, até da geração millennials, estão muito mais antenadas. Estão preocupadas com os impactos do lado de vida pessoal e de estar contribuindo para algo maior, uma questão de propósito. Agora, não podemos negar que temos, principalmente no Brasil, um aspecto social muito complexo. Como falar de alimentos orgânicos com alguém que não tem condição de se alimentar todo dia? Talvez seja otimista, mas em perspectiva, estamos em um momento de conscientização.
Mas é a evolução na velocidade necessária, uma vez que o tempo é curto?
Não, tanto que o presidente da COP30 (André Corrêa do Lago) faz um chamado nessa linha. Somos a última geração que pode fazer algo para mitigação da mudança do clima. As próximas não vão conseguir. Se não agirmos agora, vamos ser cobrados. Um problema grave é o financiamento da transição energética, falta ainda um modelo. Estruturar produtos financeiros para financiar a transição energética é crucial, até para criar competitividade e novos produtos. Enquanto tivermos fazendo produto descarbonizado mais caro do que o produto normal, vamos ter dificuldades, porque o econômico, no final, pesa. A mudança do clima gera catástrofes, e o Brasil ainda não está preparado nem culturalmente nem tecnicamente.
*Colaborou João Pedro Cecchini