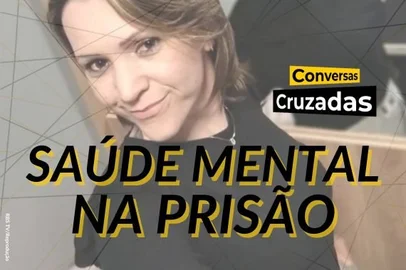Sentado na raiz de uma figueira preta, gadanha esticada junto às pernas e facão preso à cintura, rodeado pelo taquaral caído que acabou de roçar, Elodir Rodrigues Pacheco afasta o palheiro da boca e conta da vez em que mataram um lobisomem ali perto:
— Lobisomem é homem igual a nós. Ih, quantas vezes já passaram por mim de noite. Aqui mesmo tinha um bom de papo. Uma vez um conhecido encontrou o bicho. Esse brigava bem, era temeroso, mas não teve jeito. Morreu na faca. Até hoje tem as ossadas de lobisomem por aí.
Elodir empurra o fumo que escapa à palha, ajeita o boné encardido espantando chumaços de cabelo branco sobre as orelhas e engata outra história, desta vez sobre a ocasião em que enfrentou três sucuris nas matas do Itaimbezinho.
— Uma escapou, as outras duas matei. Matei com vara fina, que pau grosso não mata. Pau grosso tu dá e ela fica morta, daí a um pouco levanta e sai feito doida. Matei e deixei ali, morta sobre meus pés.
Não há sucuris nas matas do Itaimbezinho. Tampouco lobisomem, convém esclarecer. Há inclusive quem duvide da existência do próprio Elodir, um descendente de índios de pele acobreada e rosto vincado pela idade que vive sozinho nos recônditos mais inóspitos do Parque Nacional dos Aparados da Serra, na divisa entre Rio Grande do Sul e Santa Catarina.
Com 13 mil hectares espalhados entre Praia Grande (SC) e Cambará do Sul (RS), o território abriga algumas das belezas mais sedutoras dos dois Estados, como cachoeiras de 700 metros de altura e desfiladeiros formados pelo derrame de lavas vulcânicas há 120 milhões de anos.
Selvagem e exuberante, a paisagem atrai 200 mil turistas por ano, contingente que deve triplicar com a recente concessão dos serviços de visitação à iniciativa privada. Quanto mais gente transita pelas trilhas, mais Elodir se embrenha na mata.
Aos 73 anos, Seu Lodi, como é chamado pelos poucos a quem permite aproximação, não é de junção nem de muita prosa. Mora numa casa de madeira em vias de virar tapera, tamanha a degradação natural. As tábuas estão caindo, apodrecidas, e duas paredes se sustentam escoradas em troncos de árvores atados com arame farpado. Há frestas no telhado e buracos no piso. Uma cama antiga é o resquício de conforto nas três peças sem móveis nem geladeira.
Pendurado sobre a chapa de ferro que funciona como fogão à lenha, um pedaço de carne crua e salgada fica exposta à fumaça para evitar putrefação. Não há energia elétrica, rádio a pilha nem companhia, à exceção de três galinhas e uma égua velha mordida no pescoço por morcegos. Na parede, uma espingarda calibre .28 garante a proteção.
— Sou de linhagem de índio. E índio gosta de mato e mais nada — resume.
Não é fácil chegar à casa do ermitão do Itaimbezinho. O percurso exige travessia pelo leito pedregoso do Rio do Boi e uma incursão de mais de uma hora morro acima pelos escorregadios escaninhos do cânion. Por vezes, a floresta densa só é transponível a golpes de facão.
Mais adiante, o caminho se abre e borboletas multicoloridas conduzem por uma trilha ladeada por bananeiras e habitada por veados, quatis e tatus. Há décadas morando no local, Elodir conhece os atalhos do mato e duas vezes por mês cruza pela entrada do parque a caminho de Praia Grande para buscar mantimentos. A figura do homem velho, vestes descosidas sobre uma égua baia em marcha lenta, contrasta com os turistas jovens e sarados, apetrechados com garrafas d’água e utensílios de montanhismo.
— Quem não conhece pensa que é uma assombração — compara o analista ambiental do Instituto Chico Mendes de Conservação da Biodiversidade (ICMBio), Rodrigo Cambará.
Cambará é quem produz os relatórios do processo de retirada de Elodir dos Aparados. Como não tem escritura das terras nem documento algum que comprove residência na floresta antes de 1972, data em que o parque foi expandido para onde mora, ele está sujeito a ter de deixar o local sem direito à indenização. Relatos dão conta de que vivia com os pais e irmãos em três casas no mato, mas todos foram embora — um dos irmãos expulso a tiro pelo próprio Lodi.
— Ele veio de (revólver calibre) 38 querendo me esculhambar e eu esculhambei ele com a (espingarda) 28 — conta o Urtigão da vida real.
Viúvo, ele tem um filho internado por problemas mentais e uma filha residindo em Praia Grande. Ela providenciou a aposentadoria para o pai, após ele recusar ajuda do ICMBio — levado por um servidor ao INSS, ficou de costas para a atendente. Sestroso, noutra ocasião negou diálogo com os analistas ambientais.
— O acerto com vocês daqui pra frente é na bala — avisou Seu Lodi.
— Por isso que eu uso isso — reagiu Cambará, apontando para a pistola que trazia no coldre.
— Dessas daí eu já enfrentei de a duas — respondeu Elodir.
A despeito da valentia rebelde, há poucas chances de uma retirada forçada do parque. Lento e burocrático, o processo ainda está longe do fim e há entendimento tácito no ICMBio que Elodir deve ficar na floresta até o fim de seus dias.
— Não me sinto sozinho. Eu enrolo a vida por aqui e não posso ficar longe que dá saudade — sentencia o ancião.
Legado familiar
No alto do penhasco, incrustada num canto dos Campos de Cima da Serra, uma casa de madeira desponta no horizonte. É a residência dos Klippel, os vizinhos mais próximos de Seu Lodi mas também os mais célebres moradores residuais do Itaimbezinho.
Quem chega pela entrada principal do parque, a 20 quilômetros do centro de Cambará do Sul, mal começa a percorrer a borda do precipício e logo depara com placas anunciando o Café do Vô Marçal e Artesanato da Vó Maria.
Marçal Francisco Klipp, cujo sobrenome depois seria deformado em barbeiragens cartoriais, era um tropeiro nascido na localidade então batizada de Fundo do Cambará e que com frequência descia a Serra do Faxinal levando carne e grãos para escambo em Praia Grande. Na cidade, apaixonou-se por uma jovem chamada Maria de Souza. Em 1945, eles casaram e adquiriram uma propriedade de 133 hectares a cerca de 500 metros do vértice do cânion. Foi por ali que o pai de Marçal, Francisco Klipp, se tornou o primeiro homem a descer os 720 metros da garganta de pedra.
— Ele estava atrás de um cão perdido. Percorreu uma estradinha de terra até onde dava, depois foi na corda e na unha. Mas, quando chegou lá embaixo, o cachorro estava morto – — conta Alessandra Klippel, neta de Marçal.
Por 14 anos, Vô Marçal e Vó Maria viveram tranquilos, criando gado e lidando na roça. Em 1959, o governo demarcou a área do parque e logo deu início a um processo de desapropriação. Mesmo proibidos de plantar tudo que fosse além da subsistência, de fazer novas benfeitorias e mesmo puxar energia elétrica, eles criaram 10 filhos na estância, resistindo até os 80 anos. Com a idade provecta, foram morar em Cambará, onde morreram na virada dos anos 2010, nonagenários, sem ver o imbróglio judicial resolvido.
A propriedade ficou aos cuidados de caseiros eventuais, mas era difícil arranjar mão de obra, pois ninguém queria dormir numa tapera sem luz à beira do perau. Para preservar o patrimônio da família, um dos filhos, Eraldo, se mudou para lá. Enquanto campeireava, a esposa, Leoni, resgatou a roca e o tear da sogra para fazer artesanato em lã.
Não tardou para a simpática moradia, cuja chaminé estava sempre fumaçando, atrair turistas ávidos por qualquer coisa que saciasse a fome e a sede. Foi a senha para que a família retornasse ao pago. Hoje, seis descendentes do Vô Marçal e da Vó Maria moram ali, atendendo 400 clientes por dia num final de semana de bom movimento.
O chamariz é o pastel de pinhão, mas eles produzem e vendem rapadura, mel, doce de leite, alfajor, cueca virada e tantas outras iguarias como até um inusitado pastel de vento. O sucesso é tamanho que a casa onde tudo começou se transformou em restaurante, loja e museu, com exposição de peças antigas da lida no campo.
A atmosfera tão bela quanto rústica, sempre repleta de pessoas sorridentes em meio a um jardim florido e uma impetuosa araucária, seduz visitantes e tecnocratas. Após meio século de litígio desde a primeira sentença ordenando a saída do parque, datada de 1972, o ICMBio pediu recentemente a suspensão do processo que corre na Justiça Federal — outras nove famílias enfrentam ação semelhante — e está disposto a reconhecer a posse dos Klippel como habitantes originais.
O primeiro gesto de boa vontade veio no ano passado, com a permissão para instalação de placas solares que hoje garantem energia e internet. O próximo passo será a colocação de um poste da RGE.
A choupana já ganhou até numeração da prefeitura.
— Não sei que rua é essa, mas moramos no nº 1.776 do Itaimbezinho — comemora Alessandra.
Histórias da libertação
Dois séculos atrás, as relações interpessoais eram bem menos amistosas nas propriedades rurais dos Campos de Cima da Serra. Eram tempos de escravidão, e os negros que conseguiam escapar ao jugo dos estancieiros se refugiavam ao sopé do despenhadeiro, onde as nascentes dos rios São Gorgonho, Faxinalzinho e Josafaz dão origem ao Mampituba.
Protegidos pelo imenso paredão, os cativos em fuga formaram um quilombo, vivendo em grotas e do que a terra dava. Com sobrenomes herdados dos antigos senhores, a partir de 1824 os Monteiro, os Nunes e os Fogaça constituíram as primeiras famílias. Nascia a localidade da Pedra Branca, depois rebatizada de Quilombo São Roque.
O reconhecimento federal como território quilombola só ocorreu em 2004, 180 anos após a chegada dos moradores inaugurais, mas até hoje nenhuma escritura foi emitida. No total, são 7.327 hectares demarcados pelo governo, dos quais 2.641 estão sobrepostos às áreas dos parques Aparados da Serra e Serra Geral.
Das 34 famílias quilombolas, 14 residem dentro das unidades de conservação, onde apenas sete têm permissão para cultivar uma roça coletiva de cinco hectares. Fora dos parques, todos vivem fustigados por grileiros, invasores e oportunistas que se estabeleceram na região nos anos 1970, atraídos pelo pagamento de indenizações das áreas desapropriadas e pela vastidão de campo praticamente despovoado.
— Teve uma época em que o ser humano não era reconhecido como parte da natureza. Queriam isso aqui tudo limpo, que as pessoas saíssem de qualquer jeito. Teve gente que tinha três hectares onde produzia alimento e vendeu tudo por um frete de mudança para Igrejinha (município distante 150 quilômetros) — desabafa Eliseu Santos Pereira, ex-presidente da associação de moradores.
O ICMBio está atualizando um termo de compromisso com os quilombolas para reconhecer novas atividades econômicas dentro do parque e ampliar o número de famílias contempladas. A comunidade, porém, aposta no turismo como redenção financeira.
A cada ano aumenta o número de visitantes em São Roque, seduzidos pelas cachoeiras e as dezenas de piscinas naturais nos rios que banham a região. A recepção é feita num galpão comunitário situado a 20 quilômetros da entrada de Praia Grande, diante de um descampado com campo de futebol, muita sombra e uma constante brisa fresca. Após uma grande enchente destruir a igreja em 1974, o espaço também faz as vezes de refúgio espiritual, funcionando de dia como templo e à noite como salão de baile, unindo o sacro ao profano.
— Aqui o cara primeiro peca e depois vai no pé do santo pedir perdão — brinca o quilombola Roque Fogaça, apontado para o altar repleto de imagens religiosas num dos cantos do prédio.
No salão, é possível contratar um condutor local pela metade do preço cobrado pelas agências de turismo. Por enquanto, há seis trilhas diárias disponíveis, com percursos que variam de três a 11 quilômetros. Uma delas está sendo preparada para ser acessível a cadeirantes, da comunidade até à beira de um riacho.
A mais desafiadora exige três dias de caminhada pelo Vale do Josafaz e permite vislumbrar cenários deslumbrantes como a Lagoa de Itapeva e as falésias da praia da Guarita, em Torres, passando por mangueiras de pedras com dois metros de altura, usadas para prender o gado nas tropeadas que levavam charque aos bandeirantes que exploraram ouro em Minas Gerais três séculos atrás.
A maior atração é a Pedra Branca, que primeiro batizou a localidade. Onipresente na paisagem, o paredão a 980 metros de altura se tornou uma obsessão de escaladores de todo o país, com 30 vias conquistadas e tantas outras a serem descobertas. Esportistas de renome internacional têm acampado no quilombo, aguardando à beira da fogueira o momento de alcançar o topo do rochedo. Fazendo as honras da casa, estão os descendentes dos habitantes originais do pé do cânion.
— A gente não tem como viver a vida toda esperando pelo governo, se vai dar cesta básica ou vai trocar telha que quebrou. Temos que gerar renda aqui dentro para todo mundo continuar aqui. Por isso, se chega um turista e não tem uma galinha ou qualquer outra carne, é só pegar umas linhas e levar ali no rio. Enquanto ferve a água para fazer uma polenta eu volto com uma fritada de lambari. Nosso pensamento não é botar 1 milhão no bolso, mas sim que, se tu veio aqui e achou uma água que teve confiança de tomar direto no rio, que quando teu neto vier ele ainda encontre essa água ali também — ensina Eliseu, um dos líderes da comunidade e cuja bisavó indígena foi capturada a dente de cachorro para ser escravizada na mesma fazenda onde o bisavô africano já era cativo.