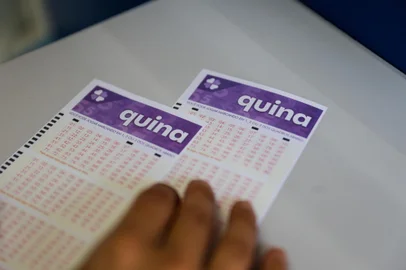Por Luiz Mauricio Azevedo
Doutor em Teoria e História Literária, editor-executivo do selo Figura de Linguagem
Uma das coisas mais difíceis que eu fiz na vida – e olha que eu fiz coisas realmente muito difíceis (vencer oito vezes o campeonato mundial de pilotos, no Super Mônaco GP II, em 1993, por exemplo) – foi reaprender a viver sob o manto do racismo brasileiro. Explico: em 2016, eu retornara de uma temporada de um ano de estudos nos Estados Unidos. Minha vida na América (que belo título de documentário, se alguém tiver o número da Petra Costa me chama inbox) se dividiu entre uma intensa vida intelectual e uma miserável vida de afetos, interrompidas apenas pelas gentilezas infinitas da dona Edla e de sua família afetuosa. Fora isso, eu gastava grande parte dos fins de semana ouvindo Dorival Caymmi, andando pelo Central Park. Parece bacana dito assim, mas depois de um certo tempo Nova York se torna também para os deslumbrados aquilo que é para todo o mundo: uma máquina de triturar presunções.
Eu sentia muita saudade da Bahia, embora nunca tenha colocado meus pés lá. Casa é uma construção mental, não um lugar. De qualquer forma, essa era uma questão emocional. Do ponto de vista racial, com exceção de uma situação difícil em um bar, durante uma partida de hockey, e de um sujeito desequilibrado que encontrei no Soho, numa manhã de sábado, a vida em Nova York era estranhamente tranquila. Não havia piadas. Não havia constrangimentos.
O politicamente correto construíra uma bolha ao redor de mim, e eu andava por aí sob proteção dela. Ademais, havia a representatividade: em todo lugar havia um negro. Tive um ortopedista negro. Tive um gerente de banco negro. O cara que me vendia a New Yorker era negro. O presidente era negro. Tive 12 colegas negros que estudavam Adorno, Arendt, West, Beauvoir, Jameson, o que fosse. Nenhum controle de tema, nenhuma tutela de ambição. E por lá eu não era o aluno negro. Eu era apenas um aluno negro. Não havia milagre étnico. Quanto mais numerosos eram meus pares, maior ficava a evidência de minha singularidade. Era o capital contra mim. E não eu contra a serra gaúcha.
Foi por isso que, quando retornei ao Brasil, já não cabia mais na moldura curta da pedagogia racial brasileira. Talvez tenham sido os sanduíches do Katz’s, talvez tenha sido a comutação diária Newark-Nova York. Talvez tenha sido o Spike Lee. Eu não sei. Só sei que foi muito difícil voltar a ser negro por aqui.
Foi duro reaprender velhas tecnologias negras de resistência à subalternia e ao mandonismo-branco-brasileiro. Felizmente, isso foi lá em 2016. Agora está tudo bem mais fácil, afinal, os brancos do Brasil descobriram, na brilhante entrevista de Silvio de Almeida, no Roda Vida, que o racismo é estrutural. Agora eles repetem por aí essa expressão, como uma espécie de senha de civilidade. Parecem um tio meu que, na década de 1980, achava que fazer frases com a palavra overnight dava a ele certa dignidade. Ele nunca soube ao certo o significado do termo. Na época, não havia Monica de Bolle no mundo disposta a explicar.
Os brancos construíram um sistema econômico no qual a mobilidade social é reduzida. Fizeram isso com o objetivo de reviver os elementos de sustentação de um regime escravocrata.
Meu tio já morreu. Trabalhou desde os oito anos de idade. No fim da vida, já com um tumor do tamanho de uma laranja no intestino, teve que pedir dinheiro emprestado para comprar um pijama. Minha tia me disse que ele nasceu e morreu pobre porque era negro. E negros sempre foram e sempre serão pobres. Eu disse a ela que o tio morreu pobre porque no Brasil os brancos construíram um sistema econômico no qual a mobilidade social é bastante reduzida. E que fizeram isso com o único objetivo sádico de reviver – seja pela leitura de Monteiro Lobato, seja pagando aos negros um salário de fome – os elementos culturais de sustentação de um regime escravocrata. Ela me recomendou rezar.
Semana passada, encontrei um ex-colega de faculdade. Ele demonstrou preocupação com a situação brasileira e alertou que, se não tomarmos cuidado, o Brasil virará um lugar tão chato quanto os Estados Unidos, onde o politicamente correto infectou tudo. Torço para que nesse novo Brasil tenha negros em todos os postos de comando; e cineastas brancos como Martin Scorsese.