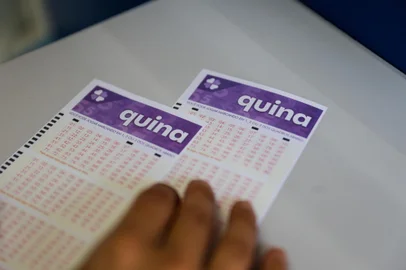Empreendedora que trabalhou cinco anos no mercado financeiro antes de se dedicar ao Terceiro Setor, Ilona Szabó, 40 anos, é uma das vozes mais ativas no debate sobre segurança pública no país, tema que aflige 10 entre 10 brasileiros e que foi uma das pautas da recente corrida eleitoral. Cofundadora e diretora-executiva do Instituto Igarapé, organização apartidária e sem fins lucrativos baseada no Rio de Janeiro que propõe soluções nas áreas de segurança, justiça e desenvolvimento, é uma defensora da política pública baseada em evidências. Isso quer dizer que suas propostas partem de estudos de caso e dados que comprovam sua eficácia. Prova desse pensamento-ação é o livro Segurança Pública para Virar o Jogo (Editora Zahar, 144 páginas, R$ 20), em parceria com Melina Risso, dentro de uma campanha de informação sobre o que funciona e o que não funciona na área (paravirarojogo.com.br). A especialista concedeu a seguinte entrevista por telefone, do Rio.
Quando se debate segurança pública no Brasil, fala-se muito em repressão e encarceramento e pouco dos fundamentos socioeconômicos que levam à violência, como a desigualdade social. Como você avalia o debate público sobre segurança no país?
Um erro foi acharmos, enquanto sociedade – e é algo que ainda está forte –, que segurança é igual a polícia. Segurança pública é muito mais do que polícia. Começa na prevenção, e prevenção é uma área em que pouca gente entende o que funciona de fato. Durante muitos anos, vimos prefeitos dizendo que prevenção não tinha nada a ver com segurança. Tem tudo a ver. O principal lugar pelo qual podemos pensar em mudar o fluxo da criminalidade é o âmbito local, com políticas concentradas em lugares, grupos específicos e comportamentos mais vulneráveis à violência. Também temos de dar atenção à primeira infância, reduzir a evasão escolar, apoiar os jovens. Sabemos que há cada vez mais gente jovem tendo filho e não tendo amparo para isso. E precisamos falar de políticas de urbanismo, com a criação de espaços seguros de convivência, com melhorias, por exemplo, de iluminação. A maior parte dos municípios só entende seu papel (na segurança) a partir da Guarda Municipal. As Guardas devem ser mais próximas do cidadão, resolvendo problemas; podem até atuar em parceria com a polícia, mas no policiamento preventivo. É preciso ampliar a atual perspectiva. Agora, para haver prevenção e policiamento inteligentes, é preciso respeito aos processos legais e, por isso, uma Justiça mais ágil e eficiente do que vemos hoje. No nosso olhar (do Instituto Igarapé), deve haver um sistema de segurança pública e Justiça criminal, que começa com prevenção, o que vai envolver diferentes secretarias nos âmbitos estadual e municipal. Deve haver um Ministério Público mais responsável na fiscalização do trabalho das polícias, uma Defensoria mais fortalecida e varas de execução penal atuando com mais agilidade. E não podemos esquecer do sistema prisional, que precisa ser reformado – está errado do princípio ao fim, não cumpre seu papel de ressocializar. Foi nos presídios que o crime organizado nasceu, e é neles que se articula. Então, se não olharmos como uma responsabilidade compartilhada, se não trouxermos uma visão mais ampla, vamos, de fato, seguir enxugando gelo. Não há solução mágica. Há solução, mas não podemos tapar o sol com a peneira.
Num momento como esse, é mais fácil ser manipulado pelo medo do que se abrir de fato para buscar soluções que tenham comprovação de eficácia.
ILONA SZABÓ
Cientista política
O Brasil está coletando dados suficientes para orientar as políticas públicas de segurança?
Fizemos avanços nos últimos anos, mas ainda não temos a qualidade de dados em nível federal. Quero dizer, não são todos os Estados que enviam dados da forma que a gente precisaria para poder ter de fato um panorama nacional. E também não são todas as instituições. É muito difícil você achar, por exemplo, taxa de condenação de homicídios no Brasil. Esse número consolidado não existe. A gente tem aproximações, feitas de acordo com os estudos que existem. Então, avançamos em alguns Estados, mas falta muito para termos um sistema nacional integrado de dados que possa ser também a base de um Sistema Único de Segurança Pública. Sei que essa é uma preocupação do atual ministro de Segurança (Raul Jungmann), que quer integrar os dados nacionais, para deixar esse sistema único como legado. Esse é um avanço. Durante muito tempo, o entendimento era de que segurança é igual a polícia, e polícia está abaixo do governador. Ficou um jogo de empurra, que para mim é uma das causas que nos trouxe até aqui – município e União virando as costas (para a segurança). Essa perspectiva mudou nos últimos tempos.
Parece estar se difundindo no Brasil a ideia de que armar a população significa garantir mais segurança. Você, uma defensora do controle da venda de armas, fica preocupada?
Bastante. Entendemos que a população está com medo. E quer uma solução. O que vemos é que, num momento como esse, é mais fácil ser manipulado pelo medo do que se abrir de fato para buscar soluções que tenham comprovação de eficácia. O que posso falar com tranquilidade é que armar a população é muito mais negativo do que positivo. As pesquisas indicam isso, e as experiências internacionais também. Mais armas em circulação significa mais mortes. Não somos contra o que está na lei (o chamado Estatuto do Desarmamento). A lei já permite a posse de armas. Há uma série de possibilidades para que as pessoas possam estar (armadas) dentro de suas casas, seu local de trabalho, se achar que assim é melhor. Quer dizer, é uma escolha de cada um, pois mesmo a posse traz riscos. É importante que cada um tome essa decisão com base em informação. Em lares onde há armas, há mais chance de suicídios com armas, de acidentes com crianças, inclusive dessa arma ser usada contra você em um assalto. Então, saiba disso quando for tomar sua decisão. Somos a favor de que se siga a lei, inclusive no que o texto fala sobre a integração de um Sistema Nacional de Armas (Sinarm), que ainda está muito deficiente. Tanto esse sistema quanto sua integração com os sistemas do Exército, que controla importação, exportação e também categorias especiais, como os colecionadores, atiradores esportivos, segurança privada (Sigma). Esses dois sistemas não se falam, apesar da determinação da legislação. Com a integração, teríamos um melhor rastreamento. Estamos falando sobre a marcação de todas as munições, para que possamos saber onde está havendo desvios. Estamos falando de marcação que não seja raspada, aquela marcação mecânica. Hoje, temos tanta tecnologia para que isso seja feito de uma forma que não possa ser danificada... Essas medidas são reais e precisam ser colocadas à mesa. Não estamos falando de desarmamento, mas de controle. Do controle não há como abrir mão. Arma é um instrumento feito para matar, não para se defender; é um instrumento de ataque. Se entramos na ideia de usar arma, a chance de matar ou morrer é altíssima. O armamento da população, e digo isso com tristeza, é uma maneira de terceirizar uma responsabilidade que é exclusiva do líder do Estado democrático. Proteger o cidadão é a responsabilidade número um de um presidente. Se este diz "faça você mesmo", está terceirizando sua principal responsabilidade. Está se isentando.
A criminalização dificulta que usuários que estão desenvolvendo dependência peçam ajuda, pelo estigma. Perdemos nas duas frentes: da segurança e da saúde.
ILONA SZABÓ
Cientista política
O Estatuto do Desarmamento está ameaçado?
Há pesquisas que mostram que, por mais que tenhamos visto crescimento de homicídios nos últimos anos, essa taxa estava muito maior (antes da implementação do Estatuto, em dezembro de 2003), em quase 8% ao ano. Se tivesse seguido aquela toada, a gente teria pelo menos mais 160 mil mortes, hoje, além do que tivemos (desde 2003). Essa lei não é a panaceia para todos o problemas, até porque, como eu disse, partes dela infelizmente não foram implementadas. Por mais que possa parecer contraintuitivo para a população, ficaríamos muito mais desprotegidos sem uma lei de controle de armas. Então, temos a obrigação, enquanto cidadãos, de levar essa mensagem adiante, de convencer as pessoas de que há outras soluções que vão nos levar para um lugar muito melhor do que a gente está hoje, e não passam por revogar essa lei.
Com relação à questão das drogas, o que significa abandonar a guerra às drogas em direção e uma abordagem que coloque a saúde e a segurança das pessoas em primeiro lugar, como você defende?
Em primeiro lugar, significa separar uso e tráfico. Em 2006, o Brasil mudou a lei de drogas e parou de penalizar com a prisão os usuários, mas continuou tratando a questão do uso na esfera da Justiça criminal. Isso cria uma distorção muito grave. A criminalização dificulta que usuários que estão desenvolvendo dependência peçam ajuda, pelo estigma. Perdemos nas duas frentes: da segurança e da saúde. Por isso é preciso descriminalizar o porte para consumo pessoal. Só para dar um exemplo do trabalho policial: no Rio, em uma pesquisa de 2015, vimos que 50% das apreensões, seja de usuário ou de traficante – e foram dezenas de milhares naquele ano –, foram de menos de 10 gramas de maconha. Então, em metade das vezes em que o policial militar voltou da rua, ficou na delegacia em média três horas, envolveu escrivão, delegado e mandou a droga para uma perícia, além de enviar a pessoa detida para o Ministério Público e um juizado especial criminal, foi porque o sujeito tinha menos de 10 gramas de maconha. Enquanto fazemos isso, há uma taxa baixíssima de esclarecimento de homicídios. Isso é um desperdício gigantesco de recursos. Não nos permite dar conta do que de fato nos traria mais segurança.
Como devem ser enquadrados os distintos agentes do tráfico?
Precisamos ter nuances de proporcionalidade. Quero dizer, quem embala a droga e a transporta sem nenhum tipo de violência não pode estar na mesma categoria do traficante armado que está matando, barbarizando. Precisamos pensar se uma mulher que é presa num presídio porque foi levar droga para um filho ou marido que está ameaçado de morte lá dentro, se de fato ela precisa ficar no regime fechado. Será que ela não pode cumprir uma pena alternativa e continuar criando seus filhos em vez de mandá-los para um abrigo? Essa discussão precisa ser feita. Ela constitui um primeiro momento do debate sobre a política de drogas. Sabemos que de 10% a 12% das pessoas que usam drogas vão em algum momento se tornar dependentes. Então, não precisamos fazer uma política pública que afete a todos que usam, mas sim aos que de fato precisam de ajuda. Quer dizer, prevenção para todo mundo, e uma ajuda pontual para quem precisa. Custa menos e é mais eficiente do que o que fazemos hoje.
E quanto à regulação das drogas? Por que esse tema ainda é um tabu?
Temos de conversar sobre isso. Se de fato quisermos atacar e desmantelar o poder das organizações criminosas, vamos precisar pensar em modelos de regulação. Começando pela maconha: seria muito melhor ter essa política sob controle da lei do que nas mãos do crime. Hoje, quem decide a idade, a potência da substância, a qualidade, o lugar do consumo, tudo é o crime organizado. Já há modelos existentes no mundo que são mais interessantes para a sociedade e colocam menos em risco nossas crianças e adolescentes. O fato de o tema continuar sendo tabu se explica porque viemos de um processo global de demonização de drogas sem nenhum embasamento científico do que seria legal ou ilegal. Há um tabu porque houve de fato uma campanha baseada em medo e desinformação que nos tirou a capacidade de conversar sobre o tema. Estamos tentando desconstruir isso. O problema só começou a sair de baixo do tapete, no Brasil, há uns cinco anos. Quando se trabalha com a política do medo, o resultado naturalmente servirá a políticos que querem tirar a atenção de outras coisas que não estão resolvendo ou não são capazes de resolver.
Há um tabu (sobre as drogas) porque houve de fato uma campanha baseada em medo e desinformação que nos tirou a capacidade de conversar sobre o tema.
ILONA SZABÓ
Cientista política
Como você avalia o resultado da intervenção militar no Rio de janeiro?
Essa intervenção é uma medida de exceção máxima. O Exército não é treinado para fazer o papel de polícia, nem deveria estar sendo colocado em situações em que também pode haver desvio de função, desvio de conduta e até corrupção de tropa. Depois de décadas de negligência, não dá para ver um resultado em poucos meses. Mas está sendo plantada uma série de mudanças mais estruturais, de gestão, treinamento e capacitação. O que é bom. Mas, por outro lado, tem algo que não está sendo levado em conta, que é nossa maior crítica a esse momento: o aumento dos homicídios dolosos e as mortes ocasionadas por policiais. É uma falha. De um lado, o Exército está fazendo um trabalho necessário de melhorias de treinamento, equipamento e com a moral das tropas. De outro, não estão sendo enfáticos de que o policial tem que ser o primeiro a cumprir a lei, em especial no uso da força. Espero que o aumento das fatalidades não ofusque essas melhorias que estão ocorrendo.
Setores progressistas têm demandado a desmilitarização da Polícia Militar. Essa alternativa faz sentido?
É complexo. No livro Segurança Pública para Virar o Jogo, Melina Risso e eu até explicamos um pouco. Temos um problema seriíssimo de modelo de polícia no Brasil, que é um modelo partido... Temos duas polícias. Uma faz a ostensividade e o patrulhamento, e a outra faz o registro dos crimes e a investigação. É um modelo ineficiente. Mesmo que não consigamos mudar o modelo de imediato, afinal, isso demanda mudança na Constituição, é necessária essa discussão. É necessário criar ferramentas para que as duas polícias trabalhem em conjunto, controlando o uso da força.
Segurança pública é um bem público. É indivisível. Enquanto eu entender que o caminho é individual, vai estar todo mundo pior.
ILONA SZABÓ
Cientista política
Um dos grupos mais afetados pela violência é o dos jovens negros. Como solucionar esse problema?
Aqui vem a mensagem mais fundamental. Segurança pública é um bem público. É indivisível. Enquanto eu entender que o caminho é individual, vai estar todo mundo pior. Só estarei seguro quando entender que minhas ações, pedidos e cobranças têm de beneficiar o todo, e não só a mim. É natural a gente ter o ímpeto de proteger nossas famílias em detrimento do todo. Mas isso não vai funcionar. Se você tem dinheiro, pode comprar saúde e educação. O único jeito de você comprar mais segurança, individualmente, é abrir mão da sua liberdade. Vai se tornar um prisioneiro e não vai conseguir usufruir da sua cidade. Infelizmente, quando temos questões muito arraigadas, não nos importamos muito, mesmo que envolvam mortes. Naturalizamos as mortes dos outros porque fazemos essa distinção entre nós e eles. E isso deixa todos mais inseguros. Se você olhar as causas de fato estruturantes da violência, os fatores de risco para uma pessoa estão baseados no conjunto da desigualdade: desemprego, baixa escolaridade, rápida e desorganizada urbanização. Isolar quem vive nesses contextos é um caminho infeliz e muito desesperançoso. E não resolve nada.
A situação dos presídios no país parece não oferecer muitas possibilidades de reintegração de condenados na sociedade. Qual a sua visão sobre isso?
O Brasil já tem a terceira maior população carcerária do mundo. Cresceu absurdamente nos últimos anos. E há um monte de mandado de prisão em aberto. Então, a conta não fecha. Construir presídio demora. Se precisar construir, vamos fazer. Até mesmo para poder cumprir a Lei de Execução Penal, que diz que não podemos misturar preso provisório com preso permanente, que temos de separar os detidos pelo grau de perigo que oferecem e pelo crime que cometeram, e nada disso é feito. Mas temos de entender que o crime nasceu e age de dentro das cadeias. Quando prendemos pessoas que podiam ser punidas de outra forma, com penas alternativas – como aquelas que têm atividade não violenta no tráfico –, essas pessoas entram no sistema e se tornam mão de obra para o crime organizado. O que precisamos no Brasil é priorizar quem deve ficar em regime fechado. Precisamos, para além disso, construir Centrais de Penas e Medidas Alternativas, que de fato tenham o objetivo de ressocializar. Se colocarmos tudo no mesmo saco, não conseguiremos resolver nada.
Quando olhamos nossos bens mais preciosos – a vida, a liberdade – e vemos como estão sendo ameaçados por anos de negligência e políticas equivocadas, é nossa obrigação pelo menos nos informar.
ILONA SZABÓ
Cientista política
Como engajar o cidadão comum para se envolver com a segurança pública?
Melhorando o entendimento do tema, as pessoas vão entender que sem segurança não há desenvolvimento. Quando olhamos nossos bens mais preciosos – a vida, a liberdade – e vemos como estão sendo ameaçados por anos de negligência e políticas equivocadas, é nossa obrigação pelo menos nos informar. Tem vários níveis de engajamento, que partem daquela autorreflexão sobre a responsabilidade de cada um e avançam para um nível de informação de querer entender melhor o que é segurança pública. E há agendas muitos positivas. Quem não quer saber de lidar com polícia e prisão, não precisa. Pode lutar para que na escola do bairro diminua e evasão escolar. A evasão escolar é determinante para a insegurança. Sabemos que a exposição à violência de zero aos seis anos colabora inclusive para a entrada no ciclo da violência mais tarde. Segurança pública é uma tarefa de todos, a ser cumprida no dia a dia. Há tantas entradas para colaborar nesse tema, que eu digo: "Ache a sua". E aja, sendo um cidadão responsável, bem informado, que possa multiplicar o conhecimento, cobrar de seus representantes que sigam as propostas baseadas em conhecimento e pesquisas. De zero a cem, não dá para ficar no zero. Temos hoje o conhecimento, que é nossa maior arma. Informação é a arma que vai fazer com que possamos dar esse salto e virar o jogo. Todos queremos a mesma coisa. Todos queremos viver em um país seguro. Precisamos ser honestos de olhar propostas que vão nos trazer esse resultado. O momento agora é não deixar o medo impactar nossas escolhas e termos um papel responsável de nos informarmos e fazermos escolhas que tragam benefícios a todos.